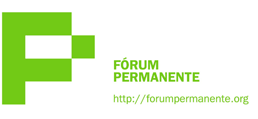Seminário Reconstrução - Conferência 4
Reiterar a pergunta pelas possibilidades do viver junto à luz da idéia de reconstrução implica repor o compromisso com as formas críticas de atribuição de sentido e de articulação das experiências vivenciadas contemporaneamente, na tentativa de se passar adiante do incontestável diagnóstico dos descaminhos tomados pelo projeto filosófico da modernidade, cujo legado instiga respostas conseqüentes e não soluções apressadas e falsamente apaziguadoras do mal-estar provocado pelo não cumprimento das promessas de emancipação. Trata-se, pois, do esforço perene de confrontar ativamente a tradição, forjando nexos capazes de atualizar os significados do já ocorrido sem, contudo, incidir em ressentimentos ou se deixar embotar pelas imagens inalcançáveis do passado tampouco pelas renitentes incertezas do futuro. Justifica-se, nesses termos, que a ‘reconstrução como instrumento de prospecção do presente’ tenha servido de viés condutor deste ciclo de palestras organizado pela 27ª Bienal. E nada mais propício para adensar as discussões travadas entre artistas, curadores, historiadores, críticos de arte, arquitetos e filósofos do que acolher no debate as contribuições provocativas e abrangentes de João Frayze-Pereira, professor e psicanalista militante.
Longe de se restringir aos comentários sobre o antigo flerte entre arte e psicanálise, Frayze-Pereira propôs bases mais sólidas de aproximação das duas esferas visando interpretar certos indícios do engaste da experiência estética nos processos constitutivos da subjetividade, sem se esquecer de que se vive em uma época em que o olhar acostumado à contemplação depara-se, mais e mais, com trabalhos de arte que não pretendem representar o mundo, e sim lidar com a espessura sensível da realidade, convidando à decifração de suas estruturas de produção de sentido e sugerindo a quem os vê a elaboração de outros caminhos perceptivos. Frayze-Pereira, em concordância com o filósofo Gerard Lebrun, afirma que somos os detetives do sensível mais do que seus voyeurs e que cada obra de arte é “um analisador capaz de fazer-nos encontrar as modulações sensoriais do cotidiano”, já que, em lugar de auto-satisfação narcísica, a arte propicia o encontro com outra realidade e pede de nós criação para que dela possamos ter experiência. Ora, não há como ignorar que, recorrentemente, a arte confere forma e matéria ao vazio do dia-a-dia para confrontá-lo com o espectador e, assim, enfatizar as constatações de profundo adestramento da vida interior, de empobrecimento das trocas intersubjetivas e de esfacelamento do cunho político da sociabilidade. Logo, se os processos de subjetivação são da ordem da reconstrução incessante e dependente do encontro genuíno com o outro, importa questionar, acima de tudo, as próprias condições da restauração da subjetividade por parte de indivíduos que têm perdido paulatinamente a disposição reflexiva. Como reconstruir o estilhaçado, afinal?
Em face disso, Frayze-Pereira empenhou-se em analisar certas manifestações artísticas que tomam o corpo, presente ou ausente, como suporte para perscrutar a noção de subjetividade ou para tematizar questões interpessoais e micro-políticas no contexto da vida social. Notou que, sendo um ponto de evidente convergência entre os repertórios da arte e da psicanálise, a discussão da idéia de corpo remonta tanto a Freud, “corpo é ego”, quanto à asserção de Merleau-Ponty de que ao emprestar seu corpo ao mundo pode o artista transformar o mundo em obra de arte. Aliás, muitos artistas, e não somente os associados às demandas por emancipação das décadas de sessenta e setenta, consideram ser o corpo o reduto primordial das insubmissões contra os interditos disciplinadores do “corpo burguês”, avesso à entrega, interpretação ou julgamento. E, para pôr às claras o comumente omitido, negado, reprimido ou sublimado, toda sorte de transgressão foi perpetrada nos trabalhos de arte: “corpos deformados, mutilados, drogados, mortos; sinais de sofrimento, de despersonalização; sinais das doenças degenerativas; questões de gênero e de identidade sexual; a obscenidade do privado tornado público, o erotismo vulgar, a solidão existencial e as dificuldades da vida coletiva e das relações intersubjetivas”. Frayze-Pereira recorreu então ao termo empregado por Hal Foster, realismo traumático, na abordagem de certa tendência da arte contemporânea em lidar com o violento e com o abjeto através de ilusionismos traumáticos que, ao provocar perplexidade, impelem ao questionamento do porquê aquilo foi feito. Mas será plausível traumatizar um espectador tão acostumado às experiências de choque oferecidas nas cidades, fazendo com que se renda diante da necessidade perturbadora de pôr a precariedade do mundo e de si mesmo em reflexão?
Frayze-Pereira passou aos exemplos, alguns ora relatados. Pois bem, de Gina Pane foram mostrados registros fotográficos de ações em que a artista, ao agredir ou desregular o funcionamento de seu organismo, exibe não só a fragilidade como as rebelias do corpo contra a esquematização - esta sim mutilante - a que tende ser submetido. Em “O branco não existe”, de 1972, uma performance em quatro tempos: em um ambiente branco, Gina Pane corta-se com gilete e deixa o sangue manchar sua roupa branca; depois, em contraste, brinca com uma bola de tênis; encara então o público, leva a navalha à face e, emocionalmente indiferente, corta; por fim, volta-se para os presentes e, com uma filmadora, grava suas expressões. Já em “O controle da morte”, de 1974, a artista cobre o rosto e parte do corpo com vermes para provocar uma imagem de finitude e, posteriormente, contrapô-la a uma celebração de aniversário de criança. Na seqüência de Gina Pane, a francesa Orlan; associação, aliás, veementemente objetada por Lisette Lagnado em pergunta ao palestrante. No telão, imagens de uma auto-hibridação forjada por sucessivas plásticas, fotografadas e filmadas em “performances cirúrgicas” que, a fim de questionar os ditos cânones da beleza, reinventaram um corpo abjeto. Parece bastante justificável que, diante dessas ações, o espectador pergunte, mesmo que silenciosamente, se se trata de criação ou de sacrifício conduzido por imaginações mórbidas e incapazes de operar sublimações, e, principalmente, em nome do que isso se faz.
Prosseguindo, Frayze-Pereira advertiu que não falta à arte dos últimos anos trabalhos que, distantes da liturgia da body-art, discutam problemas similares sem que, para tanto, o artista precise incidir sobre o próprio corpo. Entre outras, foram mencionadas algumas obras de Monica Bonvicini, Mark Raidpere e Rosângela Rennó. Tendo em mente que criar é destruir, Monica Bonvicini age diretamente no espaço expositivo, podendo tanto desferir marteladas em suas paredes quanto nele dispor um chão que se quebra com os passos dos visitantes. Em outra instalação, “Don’t miss a second”, Bonvicini tensiona os limites da intimidade ao erigir somente com espelhos um banheiro público dentro do qual a rua pode ser vista, sem que os passantes vejam seu interior. Mark Raidpere, por seu turno, aborda as noções de privacidade e isolamento por meio de vídeos que desvelam as nuances da hipocrisia e da ruptura dos laços comunicativos no cerne da família burguesa, como comprovam “Father”, “Voice Over” e “Shifting Focus”.
Já nas obras de Rosângela Rennó o corpo ausente - ou melhor, o sujeito ausente - é o causador do impacto. Ao trabalhar com negativos e fotos pesquisadas em arquivos e jornais, a artista recusa-se a participar do fluxo de produção de novas imagens, duvidando de que a fotografia possa, de fato, ser um índice do real e uma garantia dos procedimentos de identificação. Denunciando a amnésia social que força tudo à obscuridade, Rennó cuida em deixar na sombra o que não se pode tornar visível, apresentando a sombra enquanto sombra, como a operar em uma área de segredos. Assim ocorre em “Imemorial”, de 1994, instalação em que resgata e amplia desbotadas fotos 3X4 retirados de fichas funcionais de trabalhadores mortos na construção de Brasília, como a afirmar que o registro fotográfico é incapaz de evitar a massificação e o esquecimento. Também de 1994, “In Oblivionem”, uma série de retratos encontrados em álbuns de família é disposta em molduras inseridas na parede e, ao lado delas, fragmentos de crônicas coligidos em jornais antigos em baixo-relevo, remendo ao braile, como a lembrar que percebemos que não vemos. O trabalho “Cicatriz”, de 1996, é ainda mais peremptório, pois ao mostrar as tatuagens ao invés do rosto de alguns detentos do antigo Carandiru, está a mostrar os emblemas de uma realidade desprezada.
Seguindo por sua eloqüente linha argumentativa, Frayze-Pereira apontou que o lastro comum a todos os trabalhos examinados repousa em um pensamento cuja tônica é a crueldade, tal como preconizada pela poética de Antonin Artaud, muito diverso, portanto, do que Hannah Arendt designou por mal banalizado. Ponderou ainda o palestrante que “a crueldade como atitude artística propõe a aniquilação da continuidade empírica do ser no intuito de fazer manifestar seu duplo radical, ou seja, o vazio que não é ausência de todas as coisas, mas sim presença de uma consciência que problematiza radicalmente o instituído”. Sob esse prisma, a crueldade pressupõe a agressividade como um princípio constitutivo da atitude crítica tanto quanto da vida psíquica - onde, aliás, coexistem pulsões de conservação e de renovação em constante atividade restauradora com vistas a harmonizar o mundo interior e manter no exterior uma relação de tolerância para com o outro. Há, com efeito, uma grande diferença entre a perversidade calculada que tangencia as obras aludidas e a mera gratuidade do mal, observada quando os motivos de destruição de algo são tão supérfluos a ponto de estarem além da compreensão humana. A esse propósito, Frayze-Pereira citou Arendt para confirmar que a trivialização do mal danifica o pensamento, “porque o pensamento tenta alcançar alguma profundidade, chegar às raízes, e o momento em que se ocupa do mal é frustrado porque não há nada: essa é sua banalidade”. Por outro lado, quando é na arte que a destrutividade imprime seu cunho, sempre de modo planejado e artificial, ela institui uma alavanca capaz de mobilizar uma postura crítica do espectador. Eis aí um dos desafios do viver junto que a arte pode assumir para si: fazer pensar o impensável, isto é, o mal sorrateiramente instilado em nossas formas de convivência, pois desmascará-lo já é um passo eficaz para sua proscrição.
(por Liliane Benetti)
Conteúdo Relacionado
Reconstrução
27ª Bienal - Como Viver Juntos