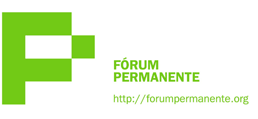Arte contemporânea e os processos de mudança na concepção de espaço (do espaço como lugar de exposição ao espaço como produtor de espacialidades), Elaine Caramella
Comunicação de Elaine Caramella no Segundo Simpósio Internacional de Arte Contemporânea
Resumo: O texto a ser apresentado tem como objetivo a reflexão dos impactos provocados pela arte dita contemporânea na concepção de espaço de exposição, o fim de fronteiras dos espaços institucionais como abrigos da obra de arte e os espaços conhecidos como espaço mercado das artes. Tal reflexão pressupõe um estudo comparativo da obra de arte no seu sentido mais geral e o museu, o centro cultural também como obras a serem expostas e visitadas não por serem lugar e abrigo da obra de arte, mas por serem obras de arte. Para tratar de tais questões fizemos um recorte teórico metodológico que associa conceitos de diferentes teorias, que são vistos também como hipóteses a serem testadas. Nesse sentido estaremos trabalhando com os conceitos de espaço, lugar, espacialidade, memória e percepção.
A primeira vez que li o texto de Paul Valery “O problema dos museus” senti um conforto e felicidade, difícil de mensurar, pois nesse texto, Valery declara algo que até então eu não ousava falar a ninguém, por me sentir muito envergonhada. Na primeira frase do texto ele declara “Não gosto de museus. Alguns deles são admiráveis, mas nunca deliciosos. As idéias de classificação, de conservação e de utilidade pública, que são justas e claras, têm pouca relação com as delícias. No primeiro passo que dou em direção às coisas belas, uma mão me tira a bengala, um aviso me proíbe de fumar (...). Minha voz se transforma e se coloca um pouco mais alta que na igreja mas um pouco menos forte do que ela soa no ordinário da vida. Logo não sei mais o que vim fazer nestas solidões de cera, que tem alguma coisa de templo e de salão, de cemitério e de escola...Vim me instruir, buscar meu encantamento, ou cumprir um dever e satisfazer as conveniências? Ou ainda, não seria um exercício de tipo particular este passeio bizarramente entravado por belezas, e desviado a cada instante por estas obras primas à direita e à esquerda , entre as quais é necessário conduzir-se como um bêbado entre os balcões? (...) Assim como o sentido da visão se acha violentado por este abuso do espaço que constitui uma coleção, também a inteligência não é menos ofendida por uma estreita reunião de obras importantes. ....” (Valery, P. ). Ler o texto, fez com que ao mesmo tempo que me libertasse da sensação de uma idiota primata, como também fez com que eu começasse a melhor observar o modo como o museu tradicional era organizado, o modo como os visitantes se comportavam e, principalmente, o como as obras eram expostas. E, por conseguinte, observar o mudança que a arte contemporânea provocou na idéia de museu, fazendo também um espaço das delícias, para usar a frase de Valery.
Ainda que tenha lido esse texto pouco tempo depois de minha primeira visita ao Louvre (1974), à semelhança de qualquer visitante comum, meu enorme interesse também foi chegar na sala onde estava Monalisa. Se as galerias caóticas com obras empoleiradas umas sobre outra, faziam-me sentir certa tontura, pois não sabia o que ver, aquela sala, chamou-me a atenção, apesar de minha pouca idade. Voltei a ela várias vezes sempre que pude ir a Paris. E, tanto quanto a obra, o que muito me impressionou foi o modo como ela estava exposta: era a única obra que ficava sozinha numa imensa sala, com uma grossa cortina de vidro anti-bala, cordas ao redor e seguranças um de cada lado, para que os visitantes não ultrapassassem o marco da fita amarela no chão e assim, não colocassem o dedo, como em geral é feito, para sentir no tato que a obra existe. Mas, sempre foi extremamente interessante observar o comportamento dos visitantes. Os trajes, a parafernália de equipamentos que carregam, as diferentes etnias permitiam, inclusive, traçar uma classificação dos tipos desses visitantes: desde grupos de turistas americanos, alemães e japoneses sempre muito equipados com máquinas sofisticadas e que entram muitas vezes, no Louvre e se dirigem diretamente ao lugar em que a Monalisa , pois é a única obra que possui sinalização especial, está exposta, a fim de muitas vezes sequer olharem para a obra, mas tirarem uma foto ao seu lado e registrarem “eu estive aqui”; o intelectual que chora e tem uma postura muito semelhante ao do fiel em uma igreja, ao ajoelhar-se e chorar diante da obra, tal a emoção que sente, o viajante comum que, avisado pelo guia turístico, passeia pela sala para comprovar se, de fato, ele tem a sensação de que a Monalisa está olhando em sua direção com sorrisos diferentes e aquele visitante que ignora qualquer coisa a respeito da arte, mas jamais poderá voltar para casa, sem dizer que foi ao Louvre e que viu Monalisa. E apesar dele ter ouvido falar muito de Monalisa, que fica totalmente decepcionado ao ver um quadro “ tão pequeno e velho”. Em geral dizem , “mas é isso? hum que coisa feia, velha”.
Apesar de hoje, Monalisa dividir o espaço com outras obras do renascimento italiano, o que, de certa forma, diminuiu o teor de sacralidade, ela está numa caixa fechada, quase semelhante a um altar. Imediatamente, quem chega a aquela galeria sabe que lá está a Monalisa, dado o número de pessoas ao seu redor. Pessoas acotovelam-se com suas máquinas fotográficas simultaneamente e tentam capturar uma imagem, erguem a máquina para capturar alguma coisa, à semelhança dos paparazzi , ou como se obra fosse uma pop star. Mas, seja na curadoria anterior que dava a Monalisa uma sala enorme, seja nesta que a coloca numa caixa fechada juntamente com outras obras do renascimento italiano, percebemos um significado duplo: de um lado, uma concepção de espaço-obra, como altar sagrado e, de outro, a vingança do receptor que transforma a ação do contemplar em uma festa da recepção, carnavalizando a idéia de contemplação. De qualquer forma, o que as curadorias do Louvre fizeram e fazem com a Monalisa é pensar a relação obra-espaço-recepção, dando a exposição dessa obra o caráter de instalação, no sentido dado pela arte contemporânea. Não se trata apenas da obra enquanto objeto, mas ela está pensada para e naquele espaço. Assim, apesar de ser Monalisa, podemos afirmar que se trata de uma instalação com e da Monalisa. Algo que faz refletir dialeticamente o espaço museu, a obra, a recepção, exigência da arte contemporânea que, diferente da arte moderna, é sempre uma intervenção contextualizada.
Após o impacto produzido pelas vanguardas do início do século XX, com produções heterodoxas, não é novidade dizer que houve um desalinhamento no munda da arte que passou a impedir qualquer tipo de rotulação em relação as correntes artísticas, de modo que as instituições oficiais da arte e da cultura, necessariamente, precisaram revetorizar seus rumos. Além disso, desde o final da 2ª guerra mundial, com a transferência do centro econômico e cultural para Nova York, entendeu-se definitivamente que arte é mercadoria. Nesse sentido, o mercado da arte tem aumentado cada vez mais. Essa mudança de centro fez com que as teses que embasaram e definiram as vanguardas de início do século XX, fossem adaptadas aos jogos de mercado. Diante desse panorama, nas décadas de 60 e 70 do século passado, os museus foram, cada vez mais assumindo um caráter versátil de extrema visibilidade midiática, no conjunto de atividades desenvolvidas, adquirindo muitas vezes apenas o caráter de espaço cenográfico e de espetáculo, conscientes de que arte é mercadoria, a ponto de hoje se difícil percber a diferença entre um museu e o centro cultural.
Assumir o caráter de mercadoria significa que a obra não está, necessariamente, associada a sua qualidade de inovação em relação aos materiais e procedimentos construtivos e senso de historicidade, mas a visibilidade que um artista e sua obra tem na mídia e nos espaços midiáticos, promovidos por órgãos de cultura: o museu, o centro cultural e a galeria. A esse respeito vale lembrar que as obras de arte não possuem código de barra. Assim, à semelhança do que acontece na sociedade em geral, entende-se muitas vezes que quanto maior a visibilidade de um artista e quanto mais sua obra está sendo exposta (cuja exposição é assinada por um curador de peso institucional, faz com que o valor artístico da obra, misture-se ao valor de sucesso na mídia e constrói o valor financeiro. Apesar de sabermos que nem todas as obras de um mesmo artista tenham o mesmo valor artístico, aliás isso foi muito bem colocado por Décio Pignatari, na epígrafe de seu livro Comunicação Poética, quando cita a frase de Ademir da Guia, “ nem pelé, nem picasso fizeram sempre obras primas”. Mas o fato de serem nome célebres, todas as obras que levam a sua assinatura, carregam o peso de valor, a ponto de a assinatura se fundir a autografia e se transformar em marca/griffe. Não à toa, Andy Wharol, com muito humor paródico, ao perceber que o valor estava na assinatura, fez uma tela só com suas assinaturas.
De certa forma, a reestruturação dos museus se deu, em geral, segundo a lógica da sedução e do efêmero, transformando-se num espaço que envolve também o espetáculo. A partir da década de 70 houve um “boom” na revitalização de espaços deteriorados, como por exemplo, galpões de fábrica, grandes edifícios abandonados que, restaurados, se transformaram em Centros Culturais, diversificando assim, do museu propriamente dito. Um acontecimento de extrema importância explicita nossas afirmações. Em 1968, Richard Serra, em Nova York, faz a instalação Respingos que estava grudada na estrutura de um antigo armazém, “condenada a ser deixada ali para sempre ou ser feita em pedaços ou destruída. Pois a remoção da obra certamente significaria a sua destruição” (43). A afirmação de Serra naquele momento foi decisiva ”Remover a obra pode destruir a obra”, dado que a obra “havia sido concebida para o lugar, erguida para o lugar, tornar-se parte integrante do lugar, alterará a própria natureza do lugar. Removida dali, simplesmente deixaria de existir” (Crimp, 2005, p. 135).
Esse caráter de dialogal obra-espaço-recepção dá a instalação um caráter de síntese e está assentado na idéia de linguagem híbrida. A instalação recorta e fragmenta os signos de diferentes linguagens e os organiza numa sintaxe que faz rememorar, de maneira vaga, pois é uma memória de possibilidades, um repertório artístico inter e multidisciplinar. Trata-se de um repertório, evidentemente, re-significado, pois ao mesmo tempo em que faz lembrar, não permite qualquer identificação. Em geral, a instalação não suporta os muros do museu que delimitam o espaço e o qualificam como lugar oficial das artes e da cultura, e invade as ruas. A galeria e o museu saturam-se, pois espaços fechados e emblemáticos. Não estou dizendo com isso, que muitas instalações, senão a maioria, sendo montadas em museus e galerias, independente da concepção e do espaço em que a obra está sendo apresentada. Certos artistas re-editam a montagem de uma instalação, de maneira idêntica em qualquer espaço que ela venha ocupar. Mesmo assim, a instalação se identifica com o caráter monumental da escultura na escala urbana, esta também é apenas um traço de memória. O mesmo ocorre em relação a poesia visual/ concreta que explode do plano, isto é, do bi para o tri-dimensional. Ou ainda, rompe-se a quarta parede do teatro, apresentando a performance em diálogo com a instalação e quase impedindo que haja diferença entre coreografia e curadoria. A paisagem urbana ou a galeria revelam-se suportes, ou espaços , carregados de significado que a obra exige e chama a atenção. Nessa medida, a própria noção de recepção estará re-significada, pois a instalação solicita e requer que o receptor assuma o caráter de interventor/ produtor, a fim de que possa com sua ação, completar a informação que só se constrói pela e na intervenção da própria recepção. De uma só vez, apresentamos várias idéias que tentaremos desenvolver não necessariamente neste texto. Mas, uma das questões que marca a instalação como diferença é a sua natureza de linguagem híbrida que não se resolve.
O híbrido com procedimento e sistemas complexos
O híbrido é uma característica, sem dúvida, do mundo contemporâneo e já está bastante codificado. De acordo com o dicionário etimológico, híbrido é usado por Plínio em sua história Natural, como mistura de animais heterogêneos, mistura de raça. O híbrido pressupõe a união por justaposição ou por combinação de elementos muito diferentes. McLuhan, em sua clássica obra Os meios de comunicação como extensões do homem, afirma que o”híbrido, ou o encontro de dois meios, constitui um momento de verdade e de revelação do qual nasce a forma nova. Isto porque o paralelo de dois meios nos mantém nas fronteiras entre formas que nos despertam da narcose narcísica. O momento de encontro dos meios é um momento de liberdade e libertação do entorpecimento e do transe que ela impõem aos nossos sentidos“. Nesse encontro, ainda McLuhan, “há uma liberação de força de energia por fissão ou por fusão” (MCLUHAN,M.:1974;75). A noção de fissão é um conceito da física que por sua vez, significa que a reação de fissão produz partículas que são da mesma espécie das que provocam e, podem também provocar novas fissões. Entramos, pois no terreno de discussão dos sistemas simples e complexos, objeto de estudo, entre outros, de Ylia Prigogine, um dos maiores filósofos da ciência da atualidade.
A fim de diferenciar o simples do complexo, Prigogine busca a noção de atrator por considerar que tal noção remete a noção de sistema dissipativo. Por sua vez, a noção de fissão tem significados necessariamente diferentes nos sistemas mecânicos e nos sistemas termodinâmicos. Nos sistemas mecânicos, a fissão tende a fragmentação. Nos sistemas termodinâmicos, à semelhança do atrator de Cantor, a fissão tende a estados e dimensões fracionários, ou ainda, variedades fractais. Diz Prigogine, que “a descoberta de atratores, caracterizados por dimensões fracionárias, permite transferir o olhar que os fractais determinaram do espaço das formas para o dos comportamentos temporais. Um atrator fractal será, assim como o conjunto de cantor, uma estrutura extraordinariamente sutil. As trajetórias que o constituem preenchem uma porção do espaço com suas dobras e redobras”(PRIGOGINE,Y.:1992;27). Neste caso, estamos frente aos sistemas complexos em que cada fração é independente e contém a informação do todo. Mais do que isso, sua trajetória e ligação é imprevisível. É o caso das energias e forças híbridas. A luz elétrica acabou com o regime de noite e dia, do exterior e do interior. Acabou com a idéia de estações sazonais, o que significa dizer que podemos comer morangos o ano inteiro. “A energia híbrida é liberada quando a luz se encontra com uma estrutura de organização humana já existente. Os carros podem viajar toda a noite, há partidas noturnas de beisebol, e os edifícios podem dispensar as janelas. Numa palavra, a mensagem da luz elétrica é a mudança total. É informação pura, sem que qualquer conteúdo restrinja a sua força transformadora e informativa “ (MCLUHAN,M.:1974;71). Pelo seu caráter icônico, cada partícula fractal contém informação de todo o sistema, o que significa dizer que cada fração pode flutuar e bifurcar num processo infinito e imprevisível de auto-organização.
Diferente, no entanto, é o processo de fragmentação e especialização dos sistemas simples. Cada partícula é dependente e mantém sempre uma relação de antes de depois. A perda de uma partícula significa a perda da totalidade, se é que podemos falar em totalidade no caso dos sistemas simples, dado seu caráter eminentemente indicial.
Ora, os sistemas híbridos pressupõem fissão e fusão. Frações que migram e se encontram. O momento desse encontro é também o nascimento de uma nova linguagem e revela um aumento de complexidade. Visto pelo olhar da Antropologia, Canevacci afirma que o híbrido é uma categoria repleta de conceitos negativos. “(...) Entre as misturas genéticas e as misturas culturais produzira-se uma ulterior e multiforme faceta híbrida com a qual se enriqueciam mutuamente. Por isso, o uso do conceito de etnia contraposto ao de raça – tão monolítico, duro, sintético, biologicamente predeterminado, – expressa melhor os cruzamentos co-evolutivos entre genética e cultura; e se afirma precisamente graças a este tipo de experiência histórica. Desse encontro plural e cruzado, instável e móvel – de tramas etnoculturais emergiu um novo sentido de sincretismo” (CANEVACCI,M.: 1996; 19). Ainda que Canevacci tenha como objetivo entender o caráter sincrético da cultura brasileira, ele apresenta um leque de possibilidades de significado para o entendimento dos sistemas híbridos, a partir de aproximações de palavras/conceitos, a saber: pastiche, bricolagem, crioulo, polifonia, dia-sin, glocal, sincrético, mirrorshades, marronização, bifurcação. Enfim, híbrido é um sistema de vírus e age por contaminação.
Assim, podemos afirmar juntamente com Canevacci que a identidade de um sistema nunca será idêntica a si própria. Ela varia constantemente. Essa flutuação, entendida como uma grande viagem de energia, é irreversível e nunca poderá voltar ao ponto inicial, ou a forma anterior, porque mais complexa. A diferença é sua marca. De certa forma, fazemos essa reflexão, entre outros para podermos também afirmar que no caso da arte contemporânea, em especial a instalação, ou performance-instalação, cada montagem da obra é uma outra obra, pois se o espaço em que a obra é instalada é parte da obra, evidentemente, que o princípio de montagem muda a cada nova exposição.
Ainda que seja redundante, é necessário enfatizar que híbrido não é um procedimento construtivo, mas um princípio cognitivo transdisciplinar, de caráter sistêmico, ou como diria E. Morin, hologrâmico. E como principio cognitivo, regulado pelo raciocínio abductivo e associação por similaridade, produz uma concepção de ordem de caráter sincrético, caracterizando-se pelo caráter de síntese.
A obra Regina Silveira e, em especial as Footprints, é exemplar. Patas que estouram o plano perspectivo e deformam-se nas perspectivas de tantos pontos. Essas patas assemelham-se a lógica da fissão, multiplicam-se e subdividem-se. Mas, cada uma delas não é apenas uma parte de um todo hierárquico, pois não se trata de hierarquia. Cada uma das partes contém a informação do todo, num reverberar que transforma a redundância e a serialização em sua informação. Aparentemente, patas são signos de caráter indicial, mas nesse caso, os índices multiplicam-se e diferenciam-se, pois não se trata de um único tipo de pata. A deformação geométrica da pata de qualquer animal, pois não importa qual, aproxima-se da pata humana. A perspectiva como sistema de representação do espaço linear, proporcional, simétrico ao multiplicar, lado a lado ao infinito, esgarça o objeto figurativo. A obra transborda do plano porque constrói dobras e redobras. Isto porque não são as patas o ponto de onde nascem patas. As linhas diagonais invisíveis parecem nascer da figura do homem em pé, parado a frente de uma marca preta. Esse procedimento produz inversões lógicas do marcar o animal ao animal que marca.
O diálogo com a perspectiva, feito com um humor insuperável moldura a janela. A célebre frase de Durer “janela aberta para o infinito” desfaz-se: uma janela emoldurada pelo quadro em explosão, mas que não termina num ponto infinito. Todo o fundo é preto. E a janela não é invisível. Ao contrário, ela é moldura de outros quadros. Mas as figuras/patas não estão no quadro. E, apesar do espaço perspectivo, a artista não imita o tridimensional pela variação tonal. Preto sobre branco: cores planas sobre plano. Poderíamos ficar horas traçando uma trama de patas da memória artística representada na obra. Mas, interessa-nos aqui é explicitar o caráter de híbrido na instalação. Assim, na qualidade de linguagem híbrida, a instalação recorta e fragmenta signos de diferentes linguagens e os organiza numa sintaxe que faz rememorar de maneira vaga, já que se trata de uma memória de possibilidades, uma experiência, evidentemente, re-significado, pois ao mesmo tempo, que faz lembrar, não permite qualquer identificação. Trata-se da memória como consciência diagramática da historicidade.
No caso de Regina Silveira, “Foots” são apenas “prints” e perdem o caráter indicial e assumindo um caráter icônico. Patas como marcas, patas que formam um todo organizado, mas não hierárquico. Patas/Marcas como ícone da própria instalação. Instalação que se pensa na materialidade mesma de linguagem e que não representa o espaço de maneira mimética, mas apresenta o espaço de linguagem. Patas que explodem do plano como se a “porteira-janela” se abrisse. Deslocamentos e Redundâncias. De um lado, a própria noção de marcas no mundo contemporâneo. Não se trata de marcar o gado, é o animal que marca. E, de outro, ao mesmo tempo, a marca/griffe estilhaça-se na repetição, perde seu caráter simbólico e indicial como signo desta ou daquela empresa/produto e assume seu caráter icônico de prints. Prints / Instalação que invade as ruas e passa a ser a fachada do prédio na bienal de sp .
O fato de a instalação invadir as ruas, não significa que ela se identifique ou se assemelhe com o caráter monumental da escultura na escala urbana, cujo signo simbólico da cidade capital e invoca o Barroco. A instalação na escala urbana enfatiza seu caráter de leitura do espaço pela inversão, repetição e amplificação. Lê e interpreta o museu de maneira dupla e complementar: é o caso da instalação de Hélio Melo na Arte Cidade Moinho Central/ Ind. Mattarazzo, em que a obra caracteriza-se pelo recolher o lixo da sociedade de consumo. Esta obra apresenta simetricamente pendurados, um numero sem fim de sapatos velhos, recolhidos do lixo, provavelmente. A idéia de serialidade do lixo lê e interpreta o caráter simbólico do velho espaço das Indústrias Mattarazzo. Um símbolo em ruína em que a instalação marca e enfatiza a ruína de uma sociedade carente de identidade, por não conservar a sua memória. Um jogo de paradoxos sem fim. Pares de sapatos que se assemelham aos muros/osssários dos cemitérios. Colunas prestes a serem demolidas. Restam apenas os sapatos. A serialidade, ao mesmo tempo que faz lembrar de maneira crítica a linha de montagem e a padronização da sociedade de consumo, devolve ao espaço a sua identidade pela ação da memória.
A obra de Cildo Meirelles espeta nos escombros/ruínas das paredes das Indústrias Mattarazzo 5000 seringas. Essas seringas espetam e representam o que? A violência a um patrimônio operário, como é o caso das Indústrias Matarrazzo? A ruína da memória operária e, simultanemente, do capital industrial? A violência da megalópole urbana? Ou, ela se iconiza pelo excesso, materializando-se na própria factura/fratura o tempo-espaço da memória?
Alguns exemplos de obras para podermos voltar nossa reflexão a mudançça quelas provovcam no espaço museu. A cultura das vanguardas no início do século XX promoveu uma guerra ímpar aos museus. A Revolução Francesa inaugurou o museu moderno, fazendo do Louvre um museu, com caráter de lugar privilegiado para a “quelle des ancians et dês moderns”. Huyssen, com probidade, afirma que o Louvre “suportou o olho cego do furacão do progresso ao promover a articulação entre a nação e a tradição, a herança e o cânone, além de ter proporcionado a planta principal para a construção da legitimidade cultural tanto no sentido nacional como universal” (HUYSSEN,A.:1994;34). Devemos pois, salientar que a guerra entre os modernos e contemporâneos resulta numa transformação que é denunciada pela instalação. E isso diz respeito ao profundo impacto na política do exibir e do ver. A instalação anuncia e denuncia a dicotomia da cultura de museu entre coleção permanente e a exposição temporária. Se a exposição permanente tem uma agenda cheia de viagens e compromissos, as exposições temporárias são registradas, congeladas e eternizadas em catálogos de luxo que, por sua vez, irão constituir novas coleções e objetos de culto e valor financeiro do colecionador. A instalação apropria-se do colecionar, cita, inverte e amplifica a crítica sobre a concepção do patrimônio e documento a ser guardado e exposto, sobre o conceito de museu como instituição privilegiada de uma determinada classe que celebra e homenageia a raridade do objeto único.
A palavra museu é de origem grega - mouseion - e significa "o templo das Musas, local onde residem as musas e ninfas e lugar onde alguém se exercitava na poesia, nas artes, na escola; era a designação da parte do palácio de Alexandria onde Ptolomeu I havia reunido os mais célebres sábios e filósofos para lhes permitir entregar-se à Cultura das ciências e das letras e na qual estava colocada a célebre biblioteca, mais tarde incendiada pelos árabes"(118). A cultura humanística deu a esse espaço uma aura de sacralidade, assumindo então o significado de Templo das Artes ou das Musas algo que o Iluminismo ampliou, ao dar a esse espaço, um sentido global e universal da cultura.
Dessa forma, a concepção de museu como espaço da morada do sagrado, exposição, contemplação e culto estará assentada no entendimento de Arquitetura como "invólucro" e que tem na fórmula escadaria/pórtico/cúpula, apresentada por Karl Friedrich Schinkel em 1822/23 para os Altes Museum de Berlim, a tipologia que torna possível a identificação desse gênero de edifício. Uma fórmula que resistiu como elemento material e que se converteu em modelo de como deveria ser uma Galeria Nacional. Essa concepção de Arquitetura como invólucro impedirá a percepção e leitura do edifício museu como obra de Arte.
Apesar dessa fórmula ser recusada e contestada pelos Arquitetos do Movimento Moderno, a partir da proposta de Museu Aberto - caixa de vidro, concreto e aço - adaptável para abrigar todo o tipo de objeto, a idéia de museu como invólucro neutro, portanto como veículo de comunicação, permanece. Em alguns casos, como o dos italianos Carlo Scarpa e Franco Albini, a atuação arquitetônica dá ênfase não ao edifício, mas às vitrines e suportes de exposição dos objetos que, apresentando-se como instalações, enfatizam, dimensionam e, de certa forma, definem o valor dos objetos , mas ao mesmo tempo, criam situações duplas, como a janela de C. Scarpa cuja esquadria recorta um jogo de luz que se reflte na parede , ao lado de um busto de mármore. Saber qual a obra que está sendo exposta, é uma pergunta sem resposta, pois tanto a esquadria quanto o busto são obras.
Por isso, neste momento vale lembrar e refletir e pontuar o papel do Museu Guggenheim de Nova York, projeto de Frank Loyd Wright. Pois ele não só desconstrói a concepção tradicional de museu, como também desloca e inverte a concepção de museu definida pelo Movimento Moderno de Arquitetura. O Museu de Frank Loyd Wright, o Guggenheim (1959), inverte posturas do movimento Moderno, rompe com o partido arquitetônico dos grandes edifícios de concreto e vidro que se situam naquele fragmento urbano de N. Y. Tal polêmica tem início com o edifício que se propõe como espaço de interpretações possíveis, um espaço lúdico e aberto que, analogicamente, aproxima passado e presente, ao colocá-los como movimento para trás e para a frente de modo a produzir o redesenho como procedimento que transforma aquela concepção de museu como espaço de culto e contemplação, em espaço que informa a arquitetura como obra também a ser exposta.
Dessa forma, o espiral do edifício aguça a memória a relacionar, concomitantemente, à torre observatório (ziggurat) da Mesquita de Samarra no Iraque e à Torre de Babel, de Valkenborch (Louvre), leitura e interpretação do Gêneses 11.4.
A Mesquita de Samarra, construída em 847, é considerada a maior do mundo, podendo hospedar mais de cem mil fieis. Sob uma base quadrada, ergue-se a torre contornada por degraus helicoidais, à semelhança dos ziggurats babiloneses, e que sobe em sentido anti-horário, cumprindo cinco rotações completas. No entanto, em nenhuma delas o diâmetro do edifício diminui, tornando a rampa mais íngreme de modo manter a altura dos planos. O desenho helicoidal, como se sabe, é símbolo do despreendimento da materialidade terrena e de ascensão ao espaço divino.
A Torre de Babel de Valkenborch, por sua vez, irá manter uma relação de identidade com o minarete de Samarra, apresentando-se como leitura cristã da torre. A palavra Babel, deve-se lembrar, é de raiz hebraica, e além de significar confusão, significa também porta de Deus. A Torre de Babel, tanto quanto a de Samarra, colocam-se como templos sagrados, cujo santuário situa-se na parte mais elevada do edifício, porta que leva e eleva a Deus. Além de espaço de visitação, culto, contemplação e oração dos fieis, a Torre de Babel amplia e diversifica o sentido da Torre de Samarra, apontando para a universalidade do mundo cristão e onipresença divina, como elemento de união entre os povos.
Essa associação entre arte e sagrado atravessará a História, mantendo uma relação de identidade. Fazendo uso do concreto armado, Wright irá inverter o sentido da torre. Para tornar isso possível foi preciso que o contrapeso, em 2/3 do edifício fosse feito com 8 pilares/nervura e o 1/3 restante dos pesos, distribuídos pelos dutos e pilares complementares. É então o concreto que irá articular e fixar a estrutura arquitetônica, funções e usos do espaço num processo de saturação de signos e códigos.
Assim, a tradicional galeria porticada dará lugar a uma rampa em seis planos em ascendência e sem interrupções, ao redor do poço cilíndrico luminoso. No entanto, o acesso à rampa não se dá de baixo para cima, mas de cima para baixo, através dos elevadores. Ao assim fazer o arquiteto inverte o significado da forma helicoidal, apontando não para o despreendimento material, mas para a própria materialidade da obra.
As linhas côncavas da rampa, quando próximas da torre do elevador, no último andar, adquirem uma expansão convexa que através da luz zenital coloca em evidência o espaço central, quebrando assim uma suposta linearidade do movimento espacial da rampa. Mas a luz natural não advém apenas da cúpula: dosada pelos diâmetros da espiral e crescente no sentido de baixo para cima, contrapõe-se com o movimento da luz zenital que, de resto, é o próprio movimento dos visitantes, algo que nos permite ler que não é o museu a dar valor e significado às obras de arte, mas o próprio receptor.
O movimento espacial é ainda recuperado através da janela porticada que dá vista à chamada Galeria Principal, cuja entrada se dá pelo primeiro andar. Mais uma vez Wright opera inversões: ao invés da horizontalidade própria de uma galeria, aqui temos uma sala, que permite a visão das obras de diversas alturas e ângulos. Assim, por exemplo, a visão vertical se dá através da janela porticada, um índice da tradição, algo que coloca o receptor numa posição mais alta que a própria obra. Essas várias possibilidades de visão sugerem, simultaneamente, o como a Arquitetura pode operar a aprendizagem do olhar e a importância que este museu dá a possibilidades diversas de recepção.
Dessa forma, ao contrário do que já se falou do museu, hostil e indiferente à pintura, ele exige do receptor, pelo movimento espacial imposto pelas rampas, iluminação e disposição das obras, uma postura crítica à medida que solicita que as obras sejam vistas no encontro espacial entre Arquitetura, Escultura e Pintura ou ainda que se perceba a arte como uma relação entre vasos comunicantes em que a Arquitetura escreve o capítulo da História entre as Artes Espaciais.
No entanto, Wright recria e resignifica também a idéia de observatório que está na matriz da torre (Samarra e Babel) como lugar que se observa de dentro para fora e à distância. O signo observatório satura-se, e invertendo seu sentido original assume-se como sinônimo de observação espacial interna, do olhar para dentro, para as próprias vísceras intercomunicantes do espaço entre as Artes, ensinado pela Arquitetura.
Essa saturação, isto é, migração de códigos e signos, constroem o museu como um outro signo, a partir das inversões e resignificações de espaços e funções, ensinando, como já dissemos, o redesenho de citações plástico-espaciais como procedimento artístico. Simultaneamente, no entanto, a descrição e associação dessas citações reveladas pelo e no redesenho, torna também inteligível o caráter evolutivo da própria obra de arte. Em outras palavras, ao se colocar tudo de cabeça para baixo o museu estabelecerá, sincronicamente, um diálogo entre Arquitetura, Pintura e Escultura na longa duração. Irreverente a tradição, Wright recria e re-significa a concepção tradicional de museu, ao saturar a Arquitetura na Escultura, apresentando o edifício não como invólucro, mas como signo híbrido, entre Arquitetura e Escultura e, portanto algo para ser visto/visitado como acervo, provando assim que o meio é a mensagem. Esta tese se confirma, quando na década de oitenta é construído o anexo no mesmo partido grandes edifícios verticais de Nova York. Esse anexo, ao mesmo tempo em que moldura a babel invertida, dá maior relevo a ele. Além, disso, o acervo do é transferido para o anexo e o Guggenheim passa a ser acervo dele mesmo. Quem vai visitar o G. não vai apenas para ver as exposições temporárias, mas principalmente para vê-lo. Ele é acervo do seu próprio acervo e não abrigo da arte, ou espaço das musa. Ele é a musa.
Espaço de desmistificação da concepção de museu de arte e curadoria, já que não é concedido valorização especial a nenhuma obra. Todas as obras recebem o mesmo espaço e a mesma iluminação. No entanto, o Guggenheim está longe de ser um abrigo complacente. Intransigente e irreverente, ele impõe e exige do receptor movimentos espaciais os mais diversos, ensinando o receptor a ver a obra sob diferentes aspectos e ângulos, mas deixando espaço também para o mero olhar turístico. Pela homogeneidade ininterrupta com que são expostas as obras, exige-se que elas devam se evidenciar, tal como o edifício, pelas suas características próprias, deixando que o "happening" seja feito pela recepção, o que pressupõe o entendimento de que, como já colocou Walter Benjamin em "A Tarefa do Tradutor", quem dá continuidade a vida de uma obra é a recepção. Dessa forma, cria-se uma tensão entre a desauratização da arte operada pela Arquitetura do museu e a própria aura da obra no museu.
Ora, o Guggenheim. ao se colocar nos limites e fronteiras da arte pública, instalação, escultura e arquitetura, pensa-se na materialidade mesma da instalação como instalação Paralelamente, a instalação lê e inverte também a adaptação contemporânea que faz o museu ao perfil dos freqüentadore e explicita os paradoxos em que a arte contemporânea esta assentada e que também sua marca.
Mas, em geral o museu é hoje o espaço mais visitado e glamouroso. Estar in é hoje índice de ter estado presente na última exposição. A velha idéia de museu como templo das musas foi enterrada. Surge em seu lugar um espaço híbrido por natureza, que se acotovela entre a diversão pública e a loja de departamento. A cultura como cenário e como espetáculo atreve-se a competir com os grandes parques de jogos e diversões. A instalação denuncia pois o colecionar, o exibir e o ver, mas também denuncia a mise-in-scene dos espetáculos e cenários museográficos como espetáculos de massa cujo objetivo é empurrar o mercado das artes para o mundo da fashion pelo êxtase e obscenidade. É interessante observar, nesse sentido, a nova configuração espacial do Louvre. Se no interior guarda as obras únicas, sacralizadas pelo museu, as lojas do museu, em especial no hall, vendem obras das primeiras marcas e produtos do início da industrialização, como é o caso, por exemplo, de Lalique.
A instalação ao fazer do ver uma ação multi-sensorial, em que o corpo fala, já que o receptor também é signo da obra, expõe a atração que o museu exerce em relação a tudo o que o homem realiza como alimento do próprio museu.
Assim é que o espaço não se realiza apenas como um suporte sígnico, isto é, como moldura do signo mas sua qualidade de suporte se apresenta e se revela como signo, no sentido bensiano, a medida que a informação construída pela e na instalação terá um caráter duplo e complementar, isto é, a leitura e interpretação que a instalação faz do espaço, caracteriza a instalação e o próprio espaço como um signo de colisão, fazendo com que a experiência da instalação com o espaço, se dê num recorte do espaço e do tempo, traçando contornos do signo/espaço que é forçado e , por isso mesmo, reage contra a instalação como leitura individualizada. Essa reação do espaço se materializa na rede contínua e infinita da recepção que fará aumentar a complexidade do entendimento do espaço e da própria instalação. Por isso é que cada gesto de intervenção da recepção não é uma mera repetição, mas uma outra ocorrência, uma outra leitura/intervenção, não importando se é ou não parecida com a primeira. Cada intervenção/recepção também se caracterizará pelo aqui-agora e isso fará com que a própria instalação assuma o caráter de evento individual, mas apenas por um curto tempo.
Em outras palavras, a instalação como colisão tempo-espaço e colisão do fato perceptivo e hábito o produz-se como linguagem e irá se apresentar, como dissemos em um signo que reordena os lugares da cultura contemporânea e caracteriza-se- como um ícone da cultura contemporânea. O tempo passado materializa-se nos murmúrios sígnicos dos fragmentos de linguagens hibridizados na própria instalação, revelando o passado como memória de representações e encenações. No entanto, esses múrmurios sígnicos de linguagens em diálogo revelarão também a singularidade do fato perceptivo re-significado pela ação da memória.
Ao assim fazer construirá a própria noção de efêmero como um dos signos de extrema importância dessa linguagem, mas ao lado da memória, o que é também outro paradoxo e eles estarão também sedimentados nos próprios materiais com os quais as obras são elaboradas, isto é, materiais de caráter temporário, deterioráveis e descartáveis, construindo obras feitas para durar um período de tempo muito curto, por um momento e, quiçá, por um instante. Essas marcas da instalação associadas a aquelas da ação/intervenção do receptor, construirá a própria noção de tempo como um instante e o espaço como mudança.
Nesse sentido é que, a instalação se apresentará como informação do espaço, como leitura e interpretação do e no espaço, mas sem necessariamente, qualificá-lo como lugar, como dissemos anteriormente. Ao contrário, ela dá relevo, na sua qualidade de leitura. Mas, mesmo assim, como dissemos, a sua qualidade de obra só se realiza no instante mesmo em que o receptor intervém, incluindo-se aí o registro fotográfico, videográfico, etc. Nessa perspectiva, a cada intervenção do receptor são gerados tantos e diferentes significados em que o gesto de intervenção assume a qualidade de signo da permanente reordenação de lugares e da cultura. Por isso é também inadequado a instalação transposta para museus e galerias. Museus e galerias já são espaços emblemáticos. Nesses espaços, a instalação só adquire sentido a medida que dialogar, revelar o museu e galeria como espaço, ou como leitura dessacralizadora desse espaço, como tentamos exemplicar.
Daí, o fato que na maioria das vezes, a instalação caracterizar-se pela e na intervenção urbana, como leitura da metrópole contemporânea, redesenhando, simultaneamente, Arquitetura e Urbanismo numa rede de e entre linguagens que se saturam e aprendem novos significados, impedindo assim, qualquer hábito de raciocínio. Aliás, esse é o próprio sentido de duração da instalação, isto é, o tempo de duração da obra é aquele que impede qualquer tipo de hábito de raciocínio. Em outras palavras, ao se apresentar como leitura do espaço, irá também qualificar o espaço, ainda que essa qualificação tenha um tempo, curto e limitado, mas que pode ser “eternizado” pela fotografia. Um outro problema, portanto.
Referências Bibliográficas
CANEVACCI, M. Sincretismos. Uma exploração das hibridações culturais. SP: Nobel, 1996.
CRIMP, D. A ruína dos museus. SP: Martins Fontes, 2006.
DANTO, A. A trasnfiguração do lugar-comum. SP: Cosac&Naif, 2005.
GARDNER, J. cultura ou lixo? RJ. Civilização brasileira, 1996.
HUISSEN, A “escapando da amnésia. O museu como cultura de massa”. IN: revista do Patrimônio Histórico Nacional. RJ: 1994, nº23.
MCLUHAN,M. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1974
PRIGOGINE, Y. Entre o tempo e a eternidade. SP: Comp. das Letras, 1992.
VAELRY, P. “ O problema dos museus”. IN: Revista do Patrimônio Histórico Nacional. RJ: 1996, nº 32.