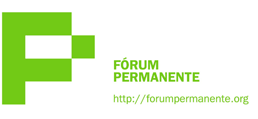Texto
A colocação da problemática artística em termos relativos possibilita notar que o aparecimento de novas idéias, perspectivas, paradigmas, poderes, intrusões e agentes culturais deslocam o equilíbrio geral da arte, provocando um câmbio de sentido em todas as formas de criação existentes. É o que está ocorrendo com o aparecimento de novas formas de produção, circulação e visibilidade da arte. A teoria da cultura, os estudos culturais, a estética relacional, as práticas situadas, a arte como serviço público, a contracultura, a cultura em ação, a arte no espaço público, o new genre public art, a crítica institucional ou o performative curating, por citar alguns dos referentes da práxis atual das artes, não apenas inserem na realidade novas manifestações, que requerem uma analise crítica adequada, mas também impõem uma revisão de julgamento do já feito. A realidade atual da cultura em geral e da arte contemporânea em particular (na que participa o estado a traves das instâncias públicas, mas também o capital privado a traves de fundações e estratégias corporativas) é complexa e é um fenômeno original que não pode ser abordado com o mesmo instrumental crítico que serviu para a modernidade e as vanguardas históricas.
Num momento em que a cultura faz parte da engrenagem económica, através das indústrias culturais, do turismo ou do espectáculo; numa época em que o capitalismo impaciente obriga a consumir rapidamente, para poder produzir ainda mais o que já nasce com a obsolescência planificada; numa era em que a rentabilidade cultural é medida pelos números que gera, mais do que pela sua contribuição, a sua pujança ou a sua qualidade; numa época em que a homologação anda de mãos dadas com o investimento, é mais necessário do que nunca repensar iniciativas cuja lógica esteja mais ao serviço da arte que do sistema que a sustenta e mais próxima das necessidades dos criadores e dos públicos reais que da indústria da cultura. A arte não é alheia à sociedade nem é gerada numa torre de marfim, antes pelo contrário; contudo, mesmo assim, a arte tem as suas especificidades, o seu sentido, a sua excepcionalidade e as suas diversas necessidades, que deverão ser satisfeitas com critério devido às suas particularidades, e não pela sua instrumentalização com fins sociais, económicos ou políticos. Tal e como afirmava noutro lugar[1], o que é necessário “…é a criação de microesferas públicas entendidas como organizações e estruturas autónomas e coesas em torno de um tipo de interesses ou sensibilidades às quais há que dotar de articulações de trabalho, oficinas de produção, agências de elaboração, plataformas de visibilidade apropriada, sentido de uma função na cidade ou comunidade e, sobretudo, uma adequada fisionomia organizativa, ou modelo estrutural”. E, neste momento, temos de trabalhar a partir desta particularidade da arte. Não se trata de reviver nenhuma utopia autónoma nem redentora, mas sim de reclamar um espaço próprio e um enquadramento específico a partir do qual se deve pensar precisamente na arte como uma ferramenta para a reflexão sobre o mundo e para actuar nele de forma crítica.
Neste sentido, é de vital importância activar projectos culturais marcados por uma reformulação das questões importantes, para não se cair em lugares comuns, nem em perguntas retóricas (que nos mantêm ocupados a produzir exposições ou catálogos, mas que a médio prazo se revelam ineficazes) e caracterizados por uma vontade de investigação tanto dos temas como das formas de os tratar e dos modos de os comunicar (o qual reclama, decerto, um tratamento afastado do profissionalismo e a produtividade mais tecnicista). Fazê-lo assim, obviamente, é mais difícil, complicado e caro, mas os benefícios são proporcionais ao risco. Se um dos problemas derivados da homologação e o declínio dos eventos culturais é a indiferença dos públicos, este tipo de projectos permitem gerar novos e efectivos mecanismos de conexão com as pessoas. Se outra das dificuldades é a de que a pressa e a redundância sem imaginação, aquando da criação das exposições, são ineficazes para os artistas – e, a longo prazo, para as instituições –, este tipo de perspectiva permite que se procure novos mecanismos de gestão e estruturas de trabalho mais eficientes. Se a excessiva aposta na visibilidade derivada do papel da exposição como dispositivo privilegiado de comunicação com o público dificulta as possibilidades reais de produção, então será necessário pôr ênfase na importância capital da mesma como ferramenta social de participação e de compromisso com o produzido. Se um inconveniente derivado da falta de resposta da esfera pública é o de que as iniciativas desenvolvidas não promovem a sua articulação, este tipo de projectos gerarão respostas diversificadas para públicos específicos, micropúblicos ou contrapúblicos. Se é um impedimento à proliferação de uma experiência colectiva derivada dos eventos massivos, tais como festivais ou bienais, então serão mais indispensáveis do que nunca acontecimentos que permitam gerar subjectividade para dar resposta a uma experiência individual. Se o neoliberalismo nos propõe diluir-nos nas massas e isso entorpece a educação (tenhamos em conta que essa é uma das funções iniludíveis do museu em particular e da cultura em geral) de paladares exigentes com gostos diversificados e com desejos responsáveis, então teremos de afirmar a necessidade de gerar acontecimentos de desconforto que reclamam tempos, estruturas e formas para além da homologação e a integração.
Com esta rápida descrição contextual referida à “instrumentalização” da cultura, com este mapa de “males” emanados da “homologação” e com esta série de problemas derivados da “popularização” da arte, não pretendemos ser, nem catastróficos, nem agoireiros. A realidade não é boa ou má, simplesmente “é” e nela devemos actuar. Por isso, tanto perante os apóstolos da bonança propagandística da arte, como perante as vozes milenaristas que promovem uma crítica paralisante, temos de antepor actuações que equilibrem e paliem os efeitos da instrumentalização, dos males e da popularização que encontra a sua síntese no Espectáculo, especialmente os que trabalhamos em instituições públicas com responsabilidades também públicas, que não gerimos marcas, nem promovemos logótipos, mas que promovemos compromissos com a sociedade com o objectivo da sua, e da nossa, melhoria. Não se trata de refutar a exposição massiva, mas sim reclamar mais variedade de propostas. Tão-pouco se trata de recusar o festival como modelo de trabalho, mas sim de evidenciar a sua lógica precária e a vacuidade das suas consequências. Não se trata de criticar o espectáculo, mas sim de exigir que os seus critérios não se apliquem a projectos gerados com outra lógica, legitimidade e rentabilidade. Não se trata, nem muito menos, de criticar os que gostam do show acrítico, mas sim de pedir programas e espaços que respondam a uma pluralidade de públicos reais e não a massas indiferenciadas. E tudo isto é hoje mais oportuno que nunca. Trata-se, certamente, de questionar tudo isto numa época caracterizada pela atonia derivada da homologação populista e a instrumentalização mediática e/ou mercantilista.
Por isso devemos ser capazes de construir projectos excepcionais num duplo sentido: como exemplos de qualidade e ambição derivada da sua originalidade, ou a sua novidade, e como mostras de uma autoexigência que se move para além dos parâmetros da inclusão homologadora. Com este ânimo, me envolvi nos últimos anos em diferentes projectos focalizando uma investigação-em-acção que em seguida descreverei. O interesse por este tipo de propostas e o facto de ter estado perto dos públicos das mesmas determinaram a vontade de indagar, tanto nos temas, como nas formas de difusão e nas estruturas necessárias para desenvolver a investigação. Daí que, de modo geral, todas as iniciativas sempre tenham sido pouco concretas e, a priori, difíceis de explicar, tanto pelas temáticas escolhidas, como pelas apresentações, as quais geralmente excedem os enquadramentos habituais do museu ou da exposição enquanto dispositivos privilegiados de encontro da arte com as pessoas. Isso explica que tenha proposto abrir o centro de arte até de manhã para apresentar diferentes manifestações da, naquele momento, nascente cultura de clube e ocupar os seus espaços de serviços para acolher actividades para o numeroso público universitário de Santiago (como no caso de Lost in Sound, CGAC, 1999), que tenha trabalhado num projecto de produção mostrando o próprio processo de produção, mais que o produto em si (Processos oberts, Ajuntament de Terrassa, Hangar, 2004-2005) ou que neste momento esteja a desenvolver Proxecto-Edición com um marcado carácter processual, multifacetado e evolutivo com diversas instituições ao longo de três anos (CGAC, MARCO e Fundação Luis Seoane, 2006-2008). Na base destas três iniciativas, tão diferentes nos seus temas e objectivos contextuais, está uma investigação dos formatos de trabalho, tanto a nível estrutural ou institucional, como de procedimento. Suponho que, por isso, no meu currículo haja poucos projectos, porque cada um requer um enorme investimento de tempo, investigação e criação de uma rede ou estrutura de trabalho adequada que inclua artistas, coordenadores, provedores de conteúdos, técnicos, etc. Para que não me alargue em detalhes abstrusos, detalharei características de dois projectos: Processos oberts (P_O_) e Proxecto-Edición.
Manuel Olveira