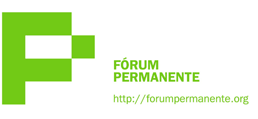34ª Bienal: correspondência #7
Agentes trabalham para a remoção de detritos de césio-137 durante o acidente radiológico em Goiânia, 1987. Foto: CNEN
Ao longo do ano de 2020, através de cartas como esta, o corpo curatorial da 34ª Bienal de São Paulo torna públicas reflexões sobre a construção da mostra. Esta sexta carta foi escrita por Ruth Estévez e Carla Zaccagnini.
RE - Decidimos chamar a Bienal Faz escuro mas eu canto. Desde o primeiro momento, me pareceu um título acertado, sobretudo em vista da dificuldade de entender o que significava essa ideia de “Faz escuro”. Está escuro, é escuro, está escurecendo... Era algo positivo ou negativo? O negativo era a escuridão e o positivo era cantar? Essa divisão não funcionava para nós.
Cada um de nós tinha uma forma de entender o “Eu canto”, e de repente o "Faz escuro” deixou de ter importância. No meu caso, não podia vê-lo a não ser como “eu luto”, eu sigo adiante, não importa o que aconteça. Em muitos momentos, resisti a entender esse título simplesmente como a ideia de que: apesar de estar escuro, temos que cantar... ou que há outras formas de cantar, inclusive que temos de respeitar as diferentes formas de cantar. Ou que cantar é, acima de tudo, uma celebração.
Imagino se pudéssemos separar o título em dois, inclusive poderiam ser feitos dois projetos completamente diferentes....
| Faz escuro | Eu canto |
CZ - Gosto do modo como você separa o título em dois, deixando de lado a palavra central, a dobradiça. Em um momento pensei que devíamos trocar essa palavra por outra, que não presumisse a oposição inicial entre a escuridão e o canto. Não seria “Faz escuro mas eu canto”, e sim “Faz escuro então eu canto”. O canto se faz mais necessário na escuridão; não se trata de cantar apesar de estar escuro, senão de cantar porque essa é uma forma de enfrentar a escuridão.
Muitos animais cantam e não o fazem para celebrar o dia de hoje, nem por fé no dia de amanhã. Cantam para demarcar a posição onde se encontram e o território que os circunda. Cantam para encontrar companheiros que reconheçam esse canto. Cantam porque assim constroem ativamente o futuro, na próxima geração.
RE - Ontem você nos mandou um vídeo sobre um grupo argentino de punk chamado 2 Minutos, que propunha aos cidadãos cantarem a mesma canção em uma hora determinada, nessa fase de quarentena que, inevitavelmente, restringe nosso diálogo. Cantar se converteu em uma espécie de paliativo, numa sociedade onde o oral tem mais relevância do que nunca, quando há poucas possibilidades de utilizar o corpo. Num momento onde as fronteiras são as margens de nossa pele, a voz é uma forma de relação possível. Cantar é um ato de re-conhecimento, para que alguém possa perceber que, realmente, você continua aí. Um “caminhar às escuras”, tateando.
Outro dia estava vendo um capítulo da série Chernobyl, uma catástrofe invisível. Numa das cenas, uma anciã está ordenhando uma vaca em sua fazenda, enquanto uns militares tentam induzi-la a abandonar o local, dado o grau de radioatividade daquela área. Estamos em 1986, quando os soldados da ex-União Soviética evacuavam as áreas num raio de 30 km em torno da central nuclear. A mulher, sem olhar para ele, começa a contar-lhe sua história pessoal, que é a história da União Soviética, durante um século. Todos estão mortos e só ela sobreviveu. Por fim, diz a ele: Passei por tudo e continuo aqui. Acredita que vou embora por causa de algo invisível?
CZ - A ameaça invisível, por um lado, permite não crer. É mais fácil duvidar de fantasmas que não vemos que deixar de temer aqueles que nada são além de aparência: fantasias, maquiagem e ruídos gravados de correntes. Por outro lado, quando a ameaça é invisível, não adianta acender a luz nem fechar os olhos. Nem correr, porque a ameaça invisível ou microscópica pode estar em qualquer lado, em todos os lados ao mesmo tempo. E o que é pior, agora, podemos trazê-la dentro. Transportá-la e transmiti-la sem saber. Não temos apenas que nos cuidar de qualquer pessoa e de seus rastros, precisamos também proteger os outros de nós. Ante a ameaça atual, essa anciã estaria segura com sua vaca até que os soldados se aproximassem para salvá-la.
No ano seguinte, 1987, o maior acidente radioativo ocorrido fora de usinas nucleares teve lugar em Goiânia, a 200 km de Brasília. A origem do desastre foi um aparelho de radioterapia obsoleto, esquecido em um edifício público abandonado, encontrado por acaso por dois catadores e vendido a um sucateiro curioso, que abriu a cápsula a marteladas e liberou o césio-137. Uma soma de pequenos erros, quase caseiros, algo ingênuos, que resultou em centenas de mortes e toneladas de lixo nuclear. Brasil. O pó, que na escuridão apresentava um brilho azul, se disseminou não por sua invisibilidade, mas por sua beleza nunca antes vista.
Quase não há distância entre a invisibilidade e o exageradamente visível. Uma das principais gráficas clandestinas durante a ditadura militar na Argentina funcionava em uma residência onde também havia uma criação de coelhos. A gráfica estava instalada no fundo do terreno, atrás de um muro falso. O acesso se dava por uma passagem secreta, debaixo das jaulas dos coelhos. O mecanismo de abertura ficava à vista, com os fios elétricos aparentes, desmazelados, como se tivessem sido esquecidos. O engenheiro o tinha construído assim intencionalmente, com a certeza de que “nada esconde melhor que a evidência excessiva”, como tinha lido em A carta roubada, de Edgard Allan Poe.
RE - Evidência excessiva... talvez seja esse o problema...
No decorrer desses dois anos, sucederam muitas coisas, ininterruptamente. Sem dúvida foram evidências físicas, talvez mais físicas que nunca (os incêndios na Amazônia, as revoltas nas diversas partes do mundo, a pandemia global...). Por outro lado, começamos a Bienal sob uma premissa metodológica, procurando não evidenciar um tema concreto. É como se houvéssemos criado um gabarito sobre o qual íamos acomodando diferentes peças, mas cada vez que o gabarito ficava completo, uma súbita rajada de vento jogava tudo no chão.
De repente chega um vírus invisível com consequências devastadoras e, numa guinada, nos esquecemos de todos os indícios empíricos que foram sucedendo. Nem fantasmas, nem raios de luz, somente puros fatos. Creio que sequer temos que nos preocupar em deixar os fios expostos para evidenciar o mecanismo e desviar a atenção para outra coisa. Os fios estão escancarados. A gráfica está em plena luz do dia. A evidência está comprovada. As testemunhas já falaram e suas vozes foram registradas em todos os formatos possíveis. Os fantasmas já nem se dão ao trabalho de se fazer transparentes. Tudo está sobre a mesa há muito tempo.
O problema é uma questão de tempos. Se nos apagam algumas lâmpadas por um breve espaço de tempo ficamos loucos. Se nos anunciam que o apagão chegará em algumas décadas continuamos muito tranquilos, fazendo pouco caso das evidências.
CZ – Ver para crer, dizemos, não? Como se os não videntes fossem sempre incrédulos. Sempre imaginei o interior dos olhos cegos como um quarto totalmente escuro, com cortinas blackout das que se usam no Norte para compensar os dias sem fim do verão. A falta que pode fazer um lugar escuro!
Do título, mais que o mas me preocupava o escuro, a associação do escuro com o difícil, o sinistro (que não por acaso vem de esquerda), o triste, o incerto e o mal; uma associação construída por séculos. Não se trata apenas do canto, se trata de atrever-se a olhar para as sombras, acostumar-se às trevas e enxergar tudo o que cabe na escuridão.
Helen Keller foi escritora, ativista importante na luta pelo sufrágio universal e defensora do sindicalismo revolucionário. Cega e surda desde antes de completar dois anos, quando subiu ao então recém-inaugurado Empire State Building e lhe perguntaram o que tinha achado da vista, respondeu com uma carta. Diz: “Ao recordar agora a vista que tive do Empire Tower, estou convencida de que, até que tenhamos olhado para dentro da escuridão, não saberemos que coisa divina é a visão”. E ainda: “as relvas e os céus estranhos que os cegos contemplam são relvas mais verdes e céus mais azuis que aqueles que olhos comuns podem ver. [...] Porque a imaginação cria distâncias e horizontes que alcançam o fim do mundo. É tão fácil para a mente pensar em estrelas como em paralelepípedos”. Tudo cabe na escuridão.
Conclui dizendo que ela é – talvez como nós – “uma dessas que veem, e ainda assim creem”¹.
¹ Carta de Helen Keller a John Finley, 13 jan. 1932. Disponível em: https://archive.org/stream/newyorkthathelen00kell/newyorkthathelen00kell_djvu.txt. Acesso em junho de 2020.