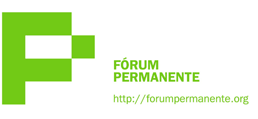"A PARTE DO FOGO" DÉCADAS DEPOIS, por Thais Rivitti
A parte do fogo décadas depois
Além de título de um livro de Maurice Blanchot – crítico literário, filósofo e escritor francês – A parte do fogo é um texto de intervenção escrito por críticos e artistas brasileiros em 1980. E é, também, o nome da publicação – de curtíssima duração – em que o texto aparece pela primeira vez. Pensada para “intervir no processo cultural brasileiro”, como definiram os próprios autores, tal publicação reunia figuras como Cildo Meireles, José Resende, João Moura Jr, Paulo Venancio Filho, Paulo Sérgio Duarte, Rodrigo Naves, Ronaldo Brito, Tunga e Waltercio Caldas.
O grande desafio da publicação era, e talvez aí esteja a referência ao pensamento de Blanchot, conseguir se estabelecer como espaço em que os trabalhos de arte e os textos “agissem”. Um espaço para a veiculação de textos que não desconsiderassem a dificuldade de colocar em palavras o que apenas as obras de arte conseguem, à sua maneira, exprimir. E que as imagens não fossem reproduções, não estivessem no lugar dos próprios trabalhos: “não se trata simplesmente de transportá-los para a folha impressa”, diziam. Mais de 25 anos depois, os parâmetros ainda válidos dessa proposta editorial continuam a nos desafiar.
O texto foi escrito na época em que o general João Baptista Figueiredo era presidente do Brasil, que ficou conhecida como o período da Abertura, durante o qual a ditadura militar afrouxou sua repressão e que, segundo seu próprio discurso, “preparou a transição” para o regime democrático. O cerne de argumentação do texto diz respeito à postura adotada pelos protagonistas da cena cultural que, nesse período, passam a festejar a tal abertura com ares conservadores: “Mal dissolvido ainda o peso da repressão, formas prontas, intactas, reaparecem em certas movimentações, pretendendo dizer quem somos e o que devemos fazer. Espécie de trabalho de reexumação com caráter purificante”. As novas linguagens foram rapidamente negadas e recalcadas. E a (velha) concepção de arte da esquerda foi rapidamente reabilitada: um certo nacionalismo, uma arte incondicionalmente engajada... O texto fazia essa denúncia e a revista propunha-se a ser um espaço, que segundo os autores não existia, para a produção contemporânea.
Nossa situação política é outra. O Brasil conseguiu dar um fim na ditadura militar e (quem diria!) eleger para presidente por duas vezes o mesmo operário que, em 1980, era a grande liderança sindical dos movimentos dos operários no ABC Paulista. É, no entanto, muito curioso observar que neste momento - quando alguns já relutam em colocar o PT no hall dos partidos de esquerda, acusando a política econômica do governo de seguir trilhando caminhos neoliberais - muitas vezes ressurge, no campo da cultura, essa velha concepção da esquerda já descrita em 1980.
Por muito tempo, a esquerda acreditou que pensar a cultura era pensar as manifestações regionais atreladas a um ideal de formação de identidade e de valorização das diversidades étnicas, sexuais e manifestações historicamente reprimidas. Realizar uma espécie de justiça histórica, valorizando o batuque do Olodum, a capoeira, as culturas indígenas, entre outras coisas que foram sistematicamente expulsas do campo das artes como conseqüência de uma colonização européia. As artes plásticas, ou melhor, a produção contemporânea de arte, como bem já notavam os críticos e artistas em 1980, não tem aqui um lugar definido.
Mas, diferentemente do que nos contam os autores de A parte do fogo sobre os anos 1980, hoje o discurso oficial não é contra o novo. As novas mídias, novas tecnologias, a arte feita por coletivos de artistas entraram de vez nas pautas do governo para se pensar a cultura. O problema é que isso não necessariamente representa uma renovação das artes. Há uma espécie de “aposta no novo”, simplesmente por ser novo, como se essa inovação técnica, ou de apresentação, já carregasse em si um potencial transformador almejado pelos atuais pensadores da cultura.
Vejamos também como eram vistas, no texto de 1980, as esferas do mercado e da instituição: “A instituição ‘democratiza’ a sua fala, o mercado ‘democratiza’ sua fala, mudam, traficam os conteúdos diretos, mas não alteram suas características (...) Basicamente, escondem o processo real de formação dos valores que manipulam e disseminam, tentam apagar essa história”. O discurso institucional era o da democratização, em sintonia com o momento da Abertura política do país, mas suas práticas continuavam conservadoras. Para os críticos e artistas de A parte do fogo a instituição seguia legitimando os trabalhos de sempre, baseada em idéias já ultrapassadas. O mercado, por sua vez, também seguia seu curso inalterado. A idéia de olhar com novos olhos para a produção brasileira, de estabelecer um valor para cada trabalho de acordo com princípios claros e que pudessem ser verificados por todos, não aconteceu. Conferir um valor (preço) para uma obra de arte continuava a ser um processo obscuro, guiado por interesses diversos e não pautado por uma discussão acerca da qualidade de cada obra.
E como vão nossas instituições e o mercado de arte hoje? As instituições públicas vivem um período grave: sem verba para dar continuidade à programação se vêem obrigadas a procurar apoios, parcerias e patrocínios de empresas privadas. Estas querem capitalizar às custas da instituição, muitas vezes recorrem a museus ou centros culturais para conferir seriedade a suas estratégias de marketing. A batalha hoje está em conseguir uma certa autonomia para implementar uma programação que não seja refém de empresas privadas. Está em tentar frear a entrada da lógica de mercado que migrou para a instituição e que mede o sucesso de cada exposição por sua repercussão na mídia e número de visitantes, entre outros critérios.
O governo Lula já deu indícios de que quer pensar a cultura, colocá-la na agenda política, retomar seu peso. Mas, aparentemente, não sabe bem como fazê-lo. Dentre outros programas, um acompanhei mais de perto (embora, tenha abandonado o processo no meio, devo confessar): as câmaras setoriais. A idéia central dessa proposta era que os próprios agentes da arte – artistas, críticos, curadores, diretores de instituições – se organizassem para fazer um documento em que colocassem suas principais reivindicações. Um mandato se passou sem que as setoriais fossem devidamente ouvidas ou que o resultado dessas discussões fosse levado a cabo com algum resultado visível. Mas, nesse esforço de tentar pensar com o governo propostas para as artes visuais, nos deparamos com um grande nó.
No texto de 1980 podemos ler “O trabalho permanente de abertura no campo cultural é o de descobrir as regiões interditadas do conflito, do desacordo, pondo a nu contradições que resistem ao desejo de homogeneizar o que, por natureza, trabalha uma heterogeneidade específica”. O nó a que me referia no último parágrafo aponta para essa mesma questão: como, a partir de uma produção de arte, determinar políticas públicas? Se a arte é essa “região do conflito”, de onde emergem conteúdos ainda não totalmente formalizados pelo corpo social, é descabido convertê-los imediatamente em políticas, torná-los normas ou mesmo esperar deles um discurso ou posicionamento fechado. A meu ver, a luta política pela inclusão, pelo alargamento dos limites do que a cultura abrange, deve ter seu espaço social garantido. Isso se consegue incentivando publicações, debates, palestras, encontros... O importante é atentar para o fato de que a produção artística informa, qualifica essa discussão, mas de modo indireto. A realização de exposições, a produção crítica e teórica sobre a arte ajuda a fazer as devidas mediações permitindo que aquilo que foi mobilizado nos trabalhos possa ser incorporado nas discussões propriamente políticas acerca da cultura. Um bom exemplo disso talvez seja a noção de território que emerge dos trabalhos de Cildo Meireles que integram a exposição Babel, com curadoria de Moacir dos Anjos. A realização da exposição e o texto do crítico auxiliam-nos a ver nos trabalhos do artista uma certa idéia de território que contribui intensamente para o debate político-cultural. Um projeto político para a cultura deve aprender a levar isso em conta, o desafio continua reposto.
Thais Rivitti