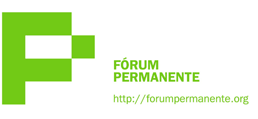Educadores são políticos e artistas – uma entrevista com Paulo Freire
Autor (entrevistado): Paulo Freire
Tradução: Katalina Leão
Revisão técnica: Cayo Honorato
Educadores são políticos e artistas – uma entrevista com Paulo Freire[1]
Entrevistadores: Muitos se interessam pelo que você escreve. Eles percebem em seus escritos alguém que, desde cedo, ensina e escreve sobre ensinar, e que gosta de travar diálogos diretos. Eu gostaria de saber mais sobre o que você, atualmente, reconhece como sua experiência formativa no Brasil, no que se refere ao desenvolvimento de seu senso de missão, assim como do pensamento que aí emerge.
Freire: Sua pergunta me leva à minha juventude, para que eu possa rever como estava trabalhando no início, pensar no que estou fazendo agora e então compreendê-lo melhor. Desde que eu era muito jovem, trabalhava com camponeses e trabalhadores no campo da educação de adultos. No começo, há muitos anos atrás, eu tentei especialmente estabelecer relações entre pais e professores mediadas pelos alunos e pelas crianças, procurando conversar com os pais sobre alguns dos problemas que seus filhos tinham na escola. Este foi provavelmente o primeiro desafio que eu vivenciei na educação de adultos. Eu tinha 22 anos, mas quando eu tento me ver novamente naquela época, percebo em primeiro lugar o quanto aprendi com os pais, trabalhadores, camponeses e, em segundo, o quanto eu também era ingênuo. Por exemplo, eu me lembro de discutir com os pais a relação deles com seus filhos. Eles eram por vezes violentos e agressivos com os filhos, não porque não os amassem, mas devido à situação concreta que viviam. Discutindo com eles, eu me lembro de ter feito uma referência a Piaget. Claro que, apesar da minha ingenuidade, minha intenção não era conversar com eles sobre o que Piaget dizia, mas citá-lo. Eles não poderiam saber quem era Piaget.
Entrevistadores: Esses pais eram pobres?
Freire: Sim, trabalhadores e camponeses. Mas eu também trabalhei naquele tempo com grupos de famílias de classe média e também com intelectuais. No entanto, eu preferia trabalhar com os trabalhadores e camponeses, porque, em última análise, na medida em que estavam experimentando uma situação muito difícil, eles eram muito mais abertos para compreender a situação do que as pessoas de outra classe, que foram condicionadas pelos estudos universitários. Desde o início da minha experiência, tenho notado muitas vezes que é mais fácil discutir alguns fatos concretos com os camponeses, tentando compreender a raison d’être dos fatos, do que discutir os mesmos temas com os professores.
Entrevistadores: Deixe-me fazer uma pergunta que me ocorre a seu respeito. Você se vê primeiramente como um educador militante, como um professor que escolheu atuar socialmente, a fim de promover a educação e o desenvolvimento social, ou se vê como um revolucionário social, para quem a educação é um instrumento? Reconheço que essa é uma questão do tipo “oito ou oitenta”.
Freire: Eu acho que não podemos dicotomizar essas dimensões. No entanto, um conhecido me disse recentemente o seguinte: “Quando eu o conheci, há muitos anos atrás, tive a impressão de que você era um educador, mas agora, cada vez mais, percebo que você é um político”. Quando eu digo “político”, isso não significa necessariamente participar deste ou daquele partido político. Naquela época, eu não estava plenamente consciente das implicações políticas da educação. Daí a impressão que lhe dei, de que eu era exclusivamente um educador.
Entrevistadores: Você disse que, naquele momento, para ser um bom professor, era preciso ser ou se tornar também um político. Isso tem algo a ver com as circunstâncias particulares no Brasil, ou você diria o mesmo em relação a qualquer educador em qualquer sociedade?
Freire: Ser ao mesmo tempo educador e político não é um privilégio do Brasil! Estou convencido disso. Enquanto professores, somos políticos e também artistas.
Entrevistadores: Você nos ajudou a ter alguma compreensão de que não deveria haver uma dicotomia entre educação e política. No seminário internacional em Persépolis,[2] foi unânime o entendimento de que a educação deve estar no centro do processo social e político. Um ano mais tarde, quando nos encontramos em uma conferência internacional em Dar es Salaam, os participantes tomaram aquilo por pressuposto; já não mais discutiam a questão, eles a tinham aceitado. Se estão trabalhando nisso de qualquer forma é outra questão. Que circunstâncias são essas que fazem com que as pessoas não vejam o que parece óbvio para nós? Você disse inúmeras vezes que você é um apóstolo itinerante do óbvio. Mas a ironia é que não parece tão óbvio para as outras pessoas. O que impede que isto seja óbvio, que, enquanto educadores, nós também sejamos artistas e políticos?
Freire: Não tenho uma resposta categórica para isso, mas posso lhe dizer como vejo as coisas. Primeiramente, estamos acostumados – essa é a minha impressão – a ver a educação como algo que está acima da realidade concreta, quando na verdade falamos da realidade, falamos sobre educação e desenvolvimento, sobre educação e mudança social. Mas tenho a impressão de que, muitas vezes, nós falamos desses assuntos, usando porém os conceitos de forma burocrática, como se fossem esvaziados, como se não houvesse os conteúdos, as condições materiais que eles expressam.
Entrevistadores: Falam sobre educação para o desenvolvimento, e não sobre educação no desenvolvimento.
Freire: Sim, sim. Sim, como se a educação estivesse aqui e o desenvolvimento lá.
Entrevistadores: Mantê-los separados sustenta quaisquer interesses particulares?
Freire: Eu penso que sim. Quanto mais nós ensinamos aos estudantes nos cursos de pedagogia que a educação é uma ferramenta neutra, um instrumento neutro, que devemos medir tudo com números, mais nós dizemos aos estudantes que os professores são seres neutros a serviço da humanidade. E quanto mais nós treinamos os professores para não analisar criticamente a realidade concreta, menos oportunidades temos de encontrar maneiras de mudar a educação. Se uma pessoa age a fim de alcançar mudanças, alguns irão dizer que ela não é mais um educador nem um cientista, mas sim um ideólogo. Para mim, essa posição em si é ideológica. Ao dizerem que a educação é neutra, eles são ideólogos. Quando negam o próprio processo ideológico, estão fazendo ideologia.
Entrevistadores: Gostaria de fazer uma pergunta ainda nesse contexto, remontando a seu passado, quando você tinha 20 anos de idade. Algo que o torna diferente de muitos professores é o seu respeito pelo educando. Você diz que o professor deve primeiro aprender com o educando. Como você chegou a esse ponto de vista? Muitos professores nunca chegam a isso, mesmo em uma longa carreira. Quando e como você se tornou consciente das capacidades do educando?
Freire: Penso que uma das fontes foi a minha relação com meus pais. Meu pai, por exemplo, tinha uma cabeça aberta fantástica. Eu era o mais jovem de quatro filhos e quando ele morreu eu tinha 13 anos. Mas sua influência sobre mim foi tão grande que até hoje sinto como se ele estivesse aqui. É muito interessante, sabe, minha identificação com ele. Ele estava sempre à procura de algo mais e todos nós tínhamos o direito de lhe dizer “não”. É fantástico, porque naquele tempo isso não era costume no nordeste do Brasil. Ele não era cristão, embora tivesse certo respeito por Cristo. Minha mãe era e ainda é católica – ela está bem idosa agora. Eu me lembro de quando tinha sete anos de idade, fui até meu pai e lhe disse: “Olhe, pai, no próximo domingo, eu terei minha primeira eucaristia na igreja católica”. Ele me olhou e disse: “Parabéns, meu filho, se essa é a sua decisão, eu irei com você”. E ele foi à igreja, mesmo não tendo fé, mas com total respeito à decisão de seu filho.
Entrevistadores: Com sete anos?
Freire: Sete! E ele me beijou no final e fomos juntos para casa. Claro que no próximo domingo ele não foi mais à igreja. Eu estou contando isso para lhe mostrar o quanto ele nos respeitava. No entanto, isso não significa que ele nos deixava por nossa conta. Não. Ele nunca falou sobre sua autoridade porque sabia que ele era a autoridade. Também aprendi desde cedo, com ele e com minha mãe, a dialogar. Essa foi a minha primeira fonte. Por exemplo, eu aprendi a ler e escrever, com ele e minha mãe, sob a sombra das árvores que havia no quintal da casa onde nasci. Eu escrevia na terra com gravetos e as palavras com as quais eles me introduziram no processo de alfabetização eram as minhas próprias palavras. É interessante notar que, anos mais tarde, quando iniciei o trabalho de alfabetização de adultos no Brasil, o processo só começava com as palavras do alfabetizando e não com as palavras do professor. Eu agora estou escrevendo um livro, que ainda não pude terminar devido às minhas viagens. Não é uma autobiografia, mas uma tentativa de analisar as experiências que tive. Claro, estou fazendo também algumas referências à minha infância e, quanto mais faço isso, mais eu descubro elementos que estão associados a meus pais. Quando eu fui para a escola primária, eu já era capaz de ler e escrever; eu tinha aprendido isso sob a sombra das árvores.
Entrevistadores: Eu gostaria de lhe perguntar mais uma coisa. O que foi que você estava fazendo, que o colocou em conflito com o governo? A maioria dos professores não acredita que seu trabalho pode, eventualmente, levá-los a um conflito direto e ao exílio.
Freire: No decorrer do meu trabalho, fui convidado pelo Ministério da Educação, para ir a Brasília, capital do país, para lançar um plano nacional de educação de adultos, que começaria pelo processo de alfabetização. Eu aceitei. Começamos trabalhando com equipes no interior e também treinando equipes em todas as cidades do país. Desenvolvemos um plano nacional com a convicção de que conseguiríamos, naquele momento, praticamente eliminar o analfabetismo no Brasil. Nossa abordagem começou com a palavra, muitas vezes mal compreendida, conscientização. Isso significa que o processo que tentamos por em prática não se restringia a um processo no qual os adultos pudessem ler e escrever rapidamente. Tratava-se de um processo no qual pudessem ser desafiados. Eles foram desafiados a compreender o contexto de suas vidas e isso é perigoso. Vemos novamente que a educação não pode ser neutra. Nosso tipo de educação trabalhava em favor do oprimido e não da classe opressora. Logo, eu era perigoso e subversivo.
Entrevistadores: Você tem trabalhado bastante na Guiné-Bissau, onde recentemente houve uma revolução. Em que medida a educação de adultos deu força a essas pessoas, que estavam levando adiante essa revolução – sob condições muito difíceis –, e em que medida a revolução é um bom prelúdio à educação de adultos?
Freire: Antes de mais nada, penso que o conflito e a luta são a parteira da consciência; eles modelam e remodelam a consciência. Esse é um dos aspectos mais importantes que podem ser percebidos na Guiné-Bissau. Quando falamos com um camponês, por exemplo, que teve a experiência de lutar para ser ele mesmo com os outros, esse homem ou essa mulher podem ser considerados analfabetos de um ponto de vista linguístico, mas não de um ponto de vista político. Eles são muito claros a respeito do que eles querem fazer, do que eles precisam fazer. Por exemplo, alguns meses atrás, eu assistia uma discussão num curso de alfabetização, quando um dos soldados escreveu a palavra luta no quadro negro. O educador – também um soldado – lhe pediu para falar sobre a palavra luta e, claro, ele falou bastante sobre sua experiência na revolução. Feito isso ele disse: “Nossa luta hoje pouco difere da luta de ontem. Ontem nós lutávamos com armas na mão para expulsar os invasores de nosso país. Hoje, tendo posto as armas de lado, nós lutamos para reconstruir nossa sociedade”. Foi maravilhoso isso, sabe? Isso foi dito por ele, um homem analfabeto que, no entanto, é politicamente alfabetizado. Isso é o resultado da experiência da luta. A experiência dentro do exército popular foi muito boa. Os soldados rapidamente aprendiam a ler e escrever, na medida em que eles sabem, antes de tudo, por que eles precisam ler e escrever. Eles sabem que estão engajados num processo importante de ajuda a seu país. Eles não vêm para os círculos de cultura apenas para aprender a ler e escrever, tampouco porque querem conseguir um bom emprego ou um diploma. Eles aprendem porque sabem que, para eles, é importante ler e escrever, para que eles possam estar melhor preparados para ajudar na reconstrução de seu país.
Entrevistadores: Paulo, em seus escritos, uma das coisas interessantes é que você trata o opressor, assim como o oprimido, como educando. Além disso, você aponta para a dinâmica que faz com o que o opressor tenda a aprender como oprimir. Mas isso para mim não é claro, considerando que um compromisso da aprendizagem é se opor à violência.
Freire: Toda vez que alguém me pergunta sobre a violência eu questiono de volta: “Violência vindo de quem, ou de quem contra quem? Violência para quê?” Porque eu penso que, se tomamos a violência como uma categoria metafísica, nós não compreendemos o verdadeiro processo social da luta. Temos sempre de olhar para a relação entre a classe oprimida e a classe opressora em uma situação concreta, porque elas não existem no ar e uma não existe sem a outra. Mais opressores equivale a mais oprimidos e vice-versa. A meu ver, enquanto para os opressores a violência é absolutamente necessária, para preservar seu status quo, a violência do oprimido deve se desenvolver de modo a superar a violência. Não sei se me fiz claro? Teoricamente, os opressores não podem permanecer como opressores sem serem violentos – o que não significa necessariamente matar pessoas o tempo todo. A violência do opressor pode às vezes se expressar na manipulação das pessoas, ou mesmo sendo doce com as pessoas. No momento em que impeço você de ser você mesmo, de se expressar, de decidir, ainda que eu lhe dê um filé mignon e um bom carro, você está sendo oprimido e eu sendo violento contra você. Assim, enquanto a violência dos opressores é necessária para que a situação opressiva continue a existir, a violência dos oprimidos deve ser empregada, transformando materialmente as condições sociais, de modo a suprimir a possibilidade da violência. É assim que vejo. A revolução é um direito do oprimido. É como se fosse um direito à sobrevivência. Ou seja, em um determinado momento da confrontação, a violência do oprimido é necessária. Por exemplo, tomemos uma situação concreta da Guiné-Bissau. Durante seis longos anos, o povo da Guiné-Bissau aceitou não ser violento, antes de começar a lutar. E eles só começaram a lutar, quando todas as demais tentativas haviam se esgotado... No entanto, veio o dia em que os portugueses mataram centenas de pessoas no porto de Guiné-Bissau por causa de uma greve. A partir de então o povo da Guiné-Bissau reconheceu que precisava lutar. Se eles não o tivessem feito, não teria havido um dia da liberdade[3] em Lisboa, em Portugal. A mudança em Portugal foi iniciada pelos africanos, pela luta dos africanos e não pelo exército português. Claro que o exército português finalmente levou isso a cabo, mas só depois disso ter sido conscientizado não por seminários, mas pela experiência de Guiné-Bissau. Os soldados começaram a perceber que estavam morrendo e que estavam matando em uma guerra perdida – politicamente falando, mas também do ponto de vista militar, era uma guerra perdida. Portanto, eles tiveram que mudar Portugal, a fim de terminar com a guerra. Quando fui a Lisboa, falei com militares e também com educadores e lhes disse: “Vocês deveriam ir em procissão a Guiné, Moçambique e Angola, para dizer muito obrigado àquelas pessoas”.
Entrevistadores: Às vezes se diz que a violência gera mais violência. Na história, há tanto as pessoas que se endurecem com o derramamento de sangue, quanto as que parecem aprender com isso, crescendo e transcendendo a violência. Você seria suficientemente esperançoso com relação à capacidade do povo lusófono na África – em razão de sua experiência revolucionária – de transcender a violência, encontrando outros meios para seus propósitos?
Freire: Sim, sim. Por exemplo, uma coisa que me impressionou muito, conversando com as pessoas na Guiné, é a ausência de ódio. Eles falavam sobre a luta, sobre as atrocidades dos portugueses, sem nenhum ódio ou expressão de ódio. Lembro-me de conversar no ano passado com um jovem soldado, sobre as terríveis atrocidades cometidas pelos portugueses, a quem perguntei: "Se você pudesse ter esses soldados portugueses em seu poder, você os castraria?” Claro que lhe fiz uma pergunta típica de um intelectual pequeno burguês. Minha arma é meu lápis. Minha arma são minhas palavras. Mas sua arma era de fato uma arma e não as palavras do lápis ou do papel. Ele me olhou e não conseguia entender minha pergunta. Ele entendia minha língua, mas não minha linguagem. Era como se eu estivesse falando grego. Finalmente ele me olhou e me disse: “Camarada, o nosso grande líder Cabral sempre nos disse – todos os dias, todos os dias – que nós devemos respeitar os nossos inimigos, mesmo que eles não nos respeitem”. Então ele me olhou mais uma vez e disse: “Você acha que estaria respeitando os seus inimigos se os castrasse? Não podíamos tocá-los. Sim, tivemos de puni-los, mas respeitando-os como seres humanos”. Fiquei muito comovido com essas palavras, mas também envergonhado, muito envergonhado por nós.
Entrevistadores: Permanecendo ainda por um minuto nesse tema da violência. A violência de fato implica matar de vez em quando. Quando há necessidade da violência, onde está o professor? O que acontece com você ou com qualquer outro enquanto professor? No momento de matar alguém, você está de fato dizendo: "Para você não é mais permitido aprender ou ensinar. Eu não irei permiti-lo e a única maneira de lidar com isso é matá-lo”.
Freire: Não, eu diria que mesmo nesse momento você está ensinando, porque está ensinando os outros e a si mesmo.
Entrevistadores: E o que acontece com quem você matou?
Freire: Ele teve a última oportunidade de aprender. Eu reconheço que isso é muito difícil mas é um fato. Eu gostaria muito que a humanidade tivesse chegado ao nível de resolver suas contradições como nesta reunião, em volta de uma mesa. Mas esse não é ainda o nível da humanidade. Você não acha que, se os franceses, os poloneses, os holandeses, os ingleses, os canadenses, os norteamericanos, os brasileiros e os africanos não tivessem lutado, não tivessem matado os nazistas, Hitler ainda estaria aqui?
Entrevistadores: Grande parte do seu trabalho se dedica a despertar a consciência, a alertar, envolver e engajar as pessoas. Nos estágios iniciais de uma revolução, as metas são bastante claras. Gostaria de saber se você tem pensado sobre os estágios avançados, quando a continuação de um esforço é necessária, para mobilizar novamente as pessoas, que devem estar se sentindo cansadas. Esse é um problema para todas as sociedades. O que acontecerá agora com Guiné-Bissau e outros países?
Freire: Essa é também uma de minhas preocupações. Estou convencido de que o processo de conscientização, que também se dá por meio da luta, deve continuar e ser ampliado depois que a batalha acabar... A primeira e mais difícil tarefa foi a de expulsar os invasores, os colonizadores, mas agora não se deve interromper o processo de ampliação da consciência crítica, do entendimento crítico, daquilo que você talvez preferisse chamar de “aprendizagem”. Se eles param agora, o resultado será que as pessoas se tornarão burocratizadas, do ponto de vista mental, e então, em vez de continuar a reconstrução da sociedade, que deve ser um processo permanente, eles se adaptarão à nova realidade. Esse é um dos motivos pelo qual sou simpático à revolução cultural na China. Você tocou num dos aspectos mais importantes de uma revolução, porque se a liderança não é capaz de seguir estabelecendo sua comunhão com a grande massa, convidando-a diariamente a participar na construção e reconstrução de sua sociedade, a tendência de a liderança se tornar estática, burocrática, rígida, é muito grande; como se eles fossem os donos das pessoas e do conhecimento sobre a realidade.
Entrevistadores: Porque algumas revoluções foram simplesmente golpes, o resultado é uma mudança de quem faz as regras, mas as condições permanecem as mesmas. É com relação à manutenção da consciência que a religião pode ter sua importância. A religião, eu presumo, pode ser um “ópio”, pode ser irrelevante. Mas você deve ter se deparado muitas vezes com esta questão... pode a religião ser funcional, pode ela ser relevante na manutenção das preocupações, das atenções, do envolvimento, do engajamento das pessoas?
Freire: Às vezes, em minhas andanças pelo mundo, as pessoas me perguntam se não estou sendo contraditório, ao pensar, escrever e tentar fazer o que estou tentando fazer, se eu trabalho para o Conselho Mundial de Igrejas, se ao mesmo tempo estou tentando me tornar um cristão. Eu digo: “tentando me tornar um cristão”; eu nunca digo que sou um cristão. Sou da opinião de que ninguém é cristão; estamos ou não estamos nos tornando cristãos. É um processo constante de nascer e morrer e nascer novamente. Às vezes, quando estou muito cansado, eu digo, sim, eu tenho o direito de ser contraditório. Mas às vezes eu elaboro algo mais, como agora. Eu penso, como você, que a religião tem sido muitas vezes o ópio do povo. Por causa disso eu prefiro falar da minha experiência de fé em vez da minha experiência religiosa. Sou muito mais um homem tentando esclarecer e expressar minha fé, do que um homem religioso. Também digo alguma coisa que pode parecer contraditória. Na minha juventude, eu fui às pessoas, aos camponeses, aos trabalhadores, enquanto educador, por causa da minha fé cristã. Mas quando cheguei lá, as pessoas me levaram a Marx. Claro que elas nunca me disseram: “Paulo, você leu Marx?” Mas sua realidade me levou. Então eu fui a Marx e, quando o encontrei, não vi nenhuma razão para deixar de me encontrar com Cristo nas esquinas das ruas. Ao contrário, quanto mais eu estudava Marx, mais eu era capaz de ler o evangelho de uma nova maneira. Estou convencido de que a igreja tradicional não tem nada a ver com a ampliação da consciência crítica. Não mais do que aquilo que eu costuma chamar de “igreja modernizada”, que não é nada além da igreja tradicional, que se tornou moderna para se tornar mais eficientemente tradicional. Ambas as igrejas, a meu ver, irão perecer historicamente sem ressurreição. A meu ver, somente a igreja profética – que é tão antiga quanto o próprio Cristianismo, sem ser tradicional; que é tão moderna quanto deve ser, sem ser modernizada – sobreviverá historicamente, na medida em que ela sabe que, para ser, ela precisa se tornar. A igreja profética não tem medo de morrer, porque ela sabe que morrer é o único caminho para a ressurreição.
Entrevistadores: Do mesmo modo que o professor profético não tem medo de aprender.
Freire: Sim, sim. O educador profético não tem medo de morrer enquanto educador, porque ele sabe que, para que ele ou ela sejam realmente um educador, ele ou ela têm que nascer enquanto um educando.
[1] Esta entrevista foi originalmente publicada em 1978, pela editora Pergamon Press, no livro Adult learning – a design for action, editado por Budd Hall e Roby Kidd. Anos depois, em 1981, ela também foi publicada em alemão, pela editora Rowohlt, no livro Der lehrer ist Politiker und Künstler, uma coletânea de textos e entrevistas de Paulo Freire. A primeira versão desta tradução foi feita a partir do texto em alemão, por Katalina Leão. Só depois é que tivemos acesso à versão original em inglês, por meio da cópia que nos foi disponibilizada por Mônica Hoff, a quem agradecemos publicamente. Esta versão final, portanto, é resultado da confrontação, pela revisão técnica, entre a tradução do alemão e o texto original em inglês. (N. dos E.)
[2] Trata-se do Simpósio Internacional para a Alfabetização de Adultos, que ocorreu em 1975, em Persépolis, no Irã. (N. da T.)
[3] Certamente, uma referência à Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, que depois se tornaria o Dia da Liberdade em Portugal. (N. da T.)