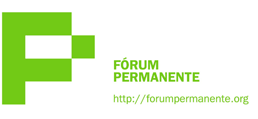Relato
A questão proposta para a mesa-redonda surgiu ao se constatar que muitos artistas participantes da Bienal moram na Alemanha, mas apenas uma artista nasceu e reside no país.
Na Bienal há 118 artistas ou grupos de artistas, incluindo-se cineastas como Godard, Fassbinder, Jack Smith etc. Desse total, 34 residem ou residiram — no caso dos falecidos — definitiva ou temporariamente em países diversos dos locais de nascimento. As cidades de Nova Iorque e Londres contam cada uma com três residentes vindos de fora. Amsterdã conta com quatro artistas estrangeiros e Paris com cinco. Por sua vez, a Alemanha traz onze artistas, sendo que oito deles são estrangeiros, procedentes da Argentina, Turquia, Coréia, Japão, Noruega, Cuba, Itália, Inglaterra, Destes, sete residem em Berlim e um em Frankfurt. Nascidos na Alemanha apenas Rainer Fassbinder, Garry Schum - ambos falecidos - e Jeanne Faust, que atualmente reside em Hamburgo*.
Tais números demonstram claramente a importância da Alemanha, especialmente de Berlim, no circuito internacional da arte. A Alemanha não se apresenta como lugar de uma cena artística nacional, e sim como um lugar internacional da arte contemporânea. Quais as reações das instituições artísticas alemãs a essa internacionalização crescente?
A intenção do debate não consistiu em recuperar a noção de nacional, muito menos de um nacional enquanto construção de um projeto de identidade, mas em problematizar a função da arte nas situações de trânsito de obras e artistas nos grandes eventos mundiais.
Os participantes da mesa redonda e a atuação do Fórum Permanente foram apresentados por Joachim Bernauer, do Instituto Goethe. Estavam presentes Kasper König, diretor do Museu Ludwig, Colônia, Ulrike Groos, diretora da Kunsthalle Düsseldorf, Jeanne Faust, artista alemã e Paulo Sergio Duarte, professor da Universidade Candido Mendes no Rio de Janeiro e curador da 1ª Bienal do Mercosul, com mediação de Martin Grossmann, diretor do Centro Cultural de São Paulo e coordenador do Fórum Permanente.
Martin Grossmann enfatizou que o interesse do tema estaria em discutir o papel da arte em exposições internacionais, destacando os casos do Brasil e da Alemanha e não em tentar recuperar o “nacional”. O adjetivo “nacional’ no Brasil sempre se associou a algum estranhamento e à alteridade, como a destacar algo que poderia estar “fora do lugar” na nação brasileira.
As exposições no parque do Ibirapuera - a Bienal de São Paulo, a do acervo do MAM e a Paralela - ao ativar todos os espaços culturais, evidenciam ser possível a união de forças de instituições diversas e mostram a inserção da arte brasileira na arte contemporânea mundial. Em outro evento do Fórum Permanente, intitulado Ilha dos Museus de Berlim (realizado na FAAP, 17 de agosto de 2006), foi discutido o papel do museu na formação nacional e na implementação de um projeto iluminista tendo como caso os museus de Berlim e a intenção de reunir a produção universal da humanidade. No Brasil há pouca verba pública e projetos de incentivos para os museus. Hoje haveria ainda interesse em se discutir o que seria nacional?
Ao iniciar sua apresentação, Kasper König faz menção à Ilha dos Museus em Berlim como o símbolo das artes prussianas, da nação prussiana, sob a qual a Alemanha se unificou em 1871. Museus geralmente são resultados das coleções de chefes de Estado, como ocorre, por exemplo, em Munique e Dresden, locais que por muito tempo foram pequenos principados com seus reis e respectivos acervos. Em Colônia, a situação foi um pouco diferente: as coleções dos oito museus da cidade não vieram de príncipes, mas de outras camadas da população. As pessoas residentes na cidade se engajaram em fazer doações para formar os acervos.
Na realidade, um museu é sempre conservador, pois conserva objetos, mas ao mesmo tempo é um bom instrumento para se lidar com contrastes, com as maneiras que os objetos do acervo são usados, como resistências, contraposições. Daí o Museu ter sempre um aspecto crítico em relação a si mesmo. Isso é muito importante, pois o acervo pertence ao público, portanto deve ser muito bem administrado. Cita como exemplo, a administração do MOMA, com o maior acervo de arte moderna, e que possui uma dinâmica forte.
Já em relação ao tema da Bienal, Como viver junto, König afirma ser isso uma utopia, uma vez que na arte o que é importante são as exceções e não as regras.
Até anos atrás, o Ministério das Relações Exteriores mantinha, no setor ligado às artes, um curador que escolhia os representantes da arte nacional para eventos como a Bienal de São Paulo e outros. Ulrike Groos relatou que fôra nomeada e, logo a seguir, destituída. Pois pela primeira vez na história da Bienal, acabou a escolha de artistas pelos países. O Ministério das Relações Exteriores alemão se recusou a acatar o novo conceito. No entanto, Ulrike Groos gostou esta nova concepção, pois hoje não se pode mais afirmar quem é o artista nacional. Ela entrou em contato com a curadora da Bienal, Lisette Lagnado e soube de seu interesse em conhecer os artistas e não apenas seus trabalhos. Ulrike Groos então foi convidada para acompanhar a curadora brasileira em sua viagem à Alemanha para conhecer os artistas, entre eles, Jeanne Faust. A 27ª Bienal trouxe uma abordagem nova sobre a antiga questão da nacionalidade.
Jeanne Faust afirmou que por ser artista não era fácil falar sobre a organização de instituições. Percebeu que os “pavilhões nacionais” perderam o sentido já que poucos são os artistas que permanecem ligados aos territórios onde nasceram; a maioria escolhe o lugar de residência por outros critérios. Interessa hoje onde a pessoa vive e como lida com as questões deste local. Há trabalhos nos quais traços nacionais aparecem quando se pretende discutir temas ligados à identidade do artista.
Paulo Sergio Duarte apontou para a pertinência do tema da mesa. Antes, lembrou que o Brasil é um país inventado pelo processo de colonização: é multicultural por excelência, ainda que o conceito que só tenha aparecido nos anos 1980. A nação brasileira sempre se compôs por etnias outras além das vindas do continente europeu. A escravidão de negros, africanos ou afrodescendentes, durou até 1888 e esta prática marcou as elites até hoje. Depois aqui chegaram correntes migratórias de várias partes do mundo. É difícil fazer aqui a palavra “nação” vibrar como vibra na França, por exemplo.
A língua portuguesa seria a morada do ser brasileiro. Além disso, a arte que nos formou foi a literatura e não as artes plásticas e visuais. Era mais fácil, no século XIX, ler Tolstoi ou escritores portugueses do que ver, por exemplo, um quadro de David ou reproduções de grandes obras plásticas da época.
No século XIX, a vinda de um rei esclarecido, D. João VI, e de sua corte para o Brasil trouxe uma nova era para as artes plásticas, com a Missão Francesa e seus desdobramentos. Mesmo assim a disseminação da cultura pelo país ocorria através dos livros.
Hoje a situação é diferente, mas não se pode dizer que melhorou. Há uma legislação única de financiamento de atividades culturais. O dinheiro público de isenções fiscais é entregue às diretorias de marketing das empresas estatais e particulares para elas organizarem seus patrocínios. Às vezes, por exemplo, chega-se ao disparate das cores dos talões de cheques de bancos envolvidos com estímulos às artes serem as mesmas dos catálogos das ações que patrocinam. A Petrobras, para citar um caso, tem uma verba que ultrapassa o orçamento do Ministério da Cultura. A legislação nacional brasileira repassa a formulação de políticas de cultura para as diretorias de marketing.
A arte brasileira depois do construtivismo tem dialogado de igual para igual com o que há de melhor no mundo da arte. Neste sentido tem sido positivo deslocar a questão de nacional/internacional para a questão de local/global.
No entanto, aqui no Brasil não há estruturas que acolham a produção artística. Não há um acervo disponível que mostre a história da arte brasileira, não há uma “sala Goeldi”, uma “sala Pancetti”, em exposição pública permanente. Daí se questiona como se forma e produz o artista aqui no Brasil se há um vazio nesta formação?
Paulo Sergio Duarte se dirigiu a Ulrike Groos dizendo que a 1ª Bienal de Mercosul, da qual foi curador em 1997, também não se organizou por países. Em 1981, a Bienal de São Paulo se organizou por um diálogo entre linguagens e não por divisões nacionais. A experiência da Lisette deveria ser feita de modo a permanecer.
A proposta de Lisette vem como resultado de um longo processo de mudar o conceito da Bienal lembrou Martin Grossmann. A 1ª Bienal de São Paulo seguia o modelo da Bienal de Veneza, que conta com espaços físicos específicos, os pavilhões, destinados às nações. Em São Paulo, Walter Zanini, curador das bienais paulistas dos anos 1981 e 1983, inaugurou o fim dos “pavilhões nacionais”. No entanto, ainda se dependia dos países escolherem e enviarem os artistas. Em 1988, a Bienal estabelecida sob o conceito de Antropofagia redimensionou a leitura corrente que se fazia sobre a divisão da arte em países.
Um modelo para grandes exposições de arte, a Documenta de Kassel, surgiu em 1956 da necessidade de afirmar a arte moderna e combater uma certa censura à arte moderna feita pelos fascistas. Foi uma resposta a uma situação traumática que perturbava o povo alemão no pós-guerra. Foi também um modo de introduzir novos conceitos na vida alemã por meio da arte. Kasper König então perguntou: em São Paulo, a Bienal responderia a quê? Faria explodir quais coisas?Grandes conceitos não mudam o mundo, o que muda o mundo é a explosão ou a expansão de limites.
Não vale a pena acreditar em utopias, mas esperar que possa surgir algo novo. Não devemos ter esperanças metafóricas que não levam a nada. As condições da arte hoje são muito banais, ligadas à mídia. É preciso buscar formas novas.
Kasper König considerou muito interessante a presença da literatura estrangeira na formação do Brasil. Ao mesmo tempo ponderou que não se pode exigir que museus mostrem toda arte nacional. O museu deve funcionar como uma biblioteca, segundo Marcel Duchamp, sem o monumento museológico que se representa para fora.
Ulrike Groos falou sobre as Bienais Há muitas no mundo, seria impossível acompanhar todas, nem saber quais poderiam ser mais importantes. São Paulo, Sidnei, Istambul, seguem modelos “mega”, tal como a Documenta. Importaram a idéia buscando dar visibilidade a seus artistas também. Nestas mostras há muitos desconhecidos com trabalhos excelentes.
Na platéia, Alfons Hug, curador das Bienais de São Paulo de 2002 e 2004, lembrou que a abolição completa das representações nacionais pode acabar com os recursos dos países no apoio financeiro aos artistas. Como conseqüência podem-se perder oportunidades de contato com trabalhos internacionais. As exposições paralelas à Bienal contam na maioria com artistas brasileiros. Além disso, a Bienal muitas vezes substitui a função dos museus.
Martin Grossmann comenta que as últimas edições da Bienal têm se voltado para a arte contemporânea, ao eliminar as salas especiais, históricas. Ao mesmo tempo tende a abolir o “gueto brasileiro” da arte ao escolher por critérios que transitam no sistema de arte internacional.
Ao ser perguntado sobre o funcionamento do patrocínio cultural no Brasil, Paulo Sergio Duarte afirmou que não há nenhuma exigência legal de que o dinheiro da isenção fiscal seja aplicado na constituição de acervos permanentes ou manutenção dos existentes. O que ocorre são patrocínios de eventos temporários, com a mega exposição Brasil 500 anos, em 2000, que não deixou nada de permanente.
Martin, referindo-se a uma visita ao Museu Ludwig, pôde avaliar a relação dos colecionadores com as instituições museológicas na Alemanha. As coleções privadas buscam apoio nos museus públicos e encontram respaldo.
Kasper König reiterou sua posição a favor do museu como espaço público, não admitindo que um museu seja orientado para dar lucro, nem que seja privatizado. O financiamento através de patrocínio não pode abrir campo para a privatização, deve ser mantida a independência. Os museus devem desenvolver um modelo novo, não precisam ter tudo, e sim aprender a lidar com eventuais momentos de precariedade, sempre no sentido da manutenção da liberdade. O museu pode ser vital para a produção da arte, para uma oposição ao fascismo, deve portanto funcionar voltado para o futuro.
Na Alemanha, o fascismo interrompeu a atividade artística que estava em ebulição criativa nas primeiras décadas do século XX. No entanto, hoje, há uma supervalorização do atual, imaginando-se que é o máximo, desconsiderando acontecimentos passados. O Museu deve funcionar como uma Biblioteca, passar informação adiante para relativizar esse entusiasmo. Hoje, a atividade artística corre o perigo de ser capturada pela moda e pelo marketing.
A situação alemã em relação aos patrocínios foi descrita por Ulrike Groos. Há várias modalidades de instituições ligadas à arte. Cita as associações de arte, criadas pela burguesia desde o século XIX, financiadas pelos associados e que apóiam novos artistas também. Podem ter milhares de sócios e mesmo assim procuram patrocínio. Todos os museus e instituições de cultura pedem patrocínio. Até há pouco tempo, os municípios eram responsáveis pela verba a tais instituições, mas hoje não querem mais esta responsabilidade. Por outro lado, as empresas querem se associar apenas ao que é interessante para elas. Deste modo, artistas jovens em começo de carreira encontram mais dificuldade. Os financiamentos estão sendo cortados também na Alemanha e os empresários querem programas e eventos que podem representá-los de modo positivo.
Caio Reisewitz, artista plástico brasileiro, reiterou que na Bienal de Veneza há representações nacionais e que estas representações admitem também artistas patrocinados por empresas privadas.
Ulrike Groos havia participado recentemente de uma discussão sobre as Bienais do mundo na qual cada país apresentou uma estratégia especifica para montar e participar destes eventos. Em Veneza tem funcionado bem a representação nacional. Em países com menos recursos outras estratégias estão sendo buscadas. Como um dos resultados do citado encontro foi levantada a questão de que uma Bienal deveria funcionar como uma oficina cultural, deixando marcas no local onde se realizasse.
O modelo de Veneza, onde cada país tem seu pavilhão, segundo Jeanne Faust, acabou exibindo apenas artistas conhecidos. Em São Paulo, porém, há mais oportunidades para os artistas desconhecidos mostrarem seus trabalhos.
Martin Grossmann apresentou uma hipótese de que a noção de nacional deslocou-se de questões territoriais e de identidades etnográficas e se transferiu para o sistema da arte, no qual pessoas especializadas viajam pelo mundo, mantêm contato com exposições, articulam-se com instituições e fazem escolhas.
Os riscos do consenso e das modas que estão em todo lugar têm preocupado muito o diretor do Museu de Colônia. Para o público, essas modas podem até ser consideradas interessantes, mas recomenda prudente ceticismo. Em suas viagens ele tem visto variações das mesmas coisas. Situações que ele associou a ouvir a “tradução da própria fala” no fone de tradução simultânea. Quanto mais harmônica a situação, maior o perigo de uma tolerância fantástica, sem que se manifestem conflitos, nem mesmo discussões, por isso ele não se mostrou tão entusiasmado. Gostaria de encontrar algo novo.
Alguém da platéia afirmou que também tem visto tudo muito igual nas suas viagens pelo circuito internacional da arte contemporânea. Parece uma feira. Onde estariam as diferenças? Esse circo é igual em todos os países, um artista se sucede ao outro. Onde estaria o que subverte agora que tudo se nivela? Tudo parece igual. Onde nós estamos?
Paulo Sergio Duarte encerrou a mesa redonda sugerindo como tema para uma Bienal futura a questão que praticamente concluiu o debate: Onde nós estamos?
* Cf. Lagnado,L.;Pedrosa, A.(eds) 27ª Bienal de São Paulo: Como viver junto: Guia. São Paulo: Fundação Bienal, 2006.