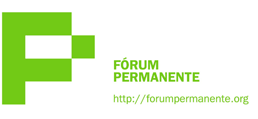TERRENO MOVEDIÇO: Raquitismo e ortodoxia na arte brasileira, por Tiago Mesquita
TERRENO MOVEDIÇO: Raquitismo e ortodoxia na arte brasileira*
Quem trabalha com cultura no Brasil, uma hora ou outra, se vê diante do hiato entre o que se faz, o que foi feito e o que o futuro reserva. Os laços que vinculam uma geração a outra parecem/se mostram frouxos, pálidos, difíceis de enxergar. A continuidade de um processo autônomo, que se desenvolve cumulativamente, tropeça nas suas próprias pernas. No caso das artes visuais, em particular, não se tem nem mesmo garantia à perenidade física e institucional das obras, necessária ao processo de constituição de uma tradição e da permanência de uma dada contribuição.
Tal fardo nos remete à herança colonial do país. Remoemos a dificuldade de transposição de uma cultura já formada do centro para a periferia. No entanto, esse processo não pode ser explicado só por sua origem. A história parece ter implicações mais perenes, que de certo modo atuam se confundindo com algo da miséria nacional. Aos trancos e barrancos, a sociedade brasileira tenta universalizar os direitos sociais. Luta arduamente para democratizar o estado e garantir que ele atenda a demandas mais universalistas, num esforço de lhe atribuir um sentido distinto ao de um comitê de concentração da renda pública na mão de poucos.
A constituição de um meio de arte sólido contém essa promessa pública, civilizatória. Afinal, se inscreve numa discussão de produção reflexiva que, de alguma forma, se debate com o mundo e busca alternativas relativas a ele. Tal feixe de obras cria diálogos polifônicos, estabelece embates variados de tradições, modos de vida, formulações intelectuais e políticas. A instituição desta esfera viva de discussão pressupõe a criação de equipamentos públicos, de socialização do saber. Esse tipo de absorção também aparece canhestro no país.
De fato, se acompanharmos o modo como as artes se instituíram por aqui, vemos que, o tempo todo, deve-se enfrentar a questão de um meio mal estabelecido e de uma tradição ainda a ser constituída. Até hoje, quem faz arte contemporânea sente essa espécie de desamparo. O campo institucional, mesmo depois de um desenvolvimento significativo, ainda é muito frágil. Escorrega junto a um meio que se esforça por amadurecer, mas vê seu crescimento muitas vezes adiantado por razões exógenas à sua própria dinâmica. Deste modo, a compreensão do sentido e do destino do trabalho do artista, em termos abstratos, é ainda problemática.
Ao realizar uma exposição o artista não sabe com clareza qual o impacto que aqueles trabalhos poderão ter. Por aqui, não estão garantidas nem mesmo quais posições estéticas participam da discussão visual. É claro que em qualquer lugar, a qualquer momento, é difícil ter alguma dimensão dos resultados e implicações de um trabalho artístico. O que discrepa no caso brasileiro é que não se sabe o que vai ser feito daquilo: nada garante que alguma instituição vá adquirir aqueles trabalhos, o mercado é pequeno e a presença cultural das artes plásticas é insatisfatória. Depois de exposto, não se sabe se o objeto será visto novamente ou não. Nem mesmo uma inserção no debate cultural é garantida. Com o baile acabado, o trabalho pode se ressentir de certa invisibilidade. É comum vermos as obras indo para um canto escuro esquecidas, como se nunca tivessem existido. A presença rala vale inclusive para artistas já consagrados.
Ao longo do tempo, de maneira mais expressiva a partir dos anos 50, essa insegurança foi um dos pontos que deram o norte para o desenvolvimento das artes plásticas. É possível vermos decorrências diversas desse processo na cultura visual; claro que ela não se reduz a desdobramentos dessa questão, mas a inquietação em torno desse tema é marcante.
Em certo sentido, a dificuldade da obra de arte em se legitimar acaba produzindo uma disponibilidade no campo criativo. Já que não se sabe muito bem porquê ela existe, o artista deve ser rigoroso e radicalizar, em uma presença forte, a experiência estética. Talvez, como no período inicial do cinema novo, se trate de uma possibilidade de transformar a adversidade em vantagem, buscando o máximo de intensidade, que justifique a feitura do trabalho. Diante de uma situação precária os artistas não desistem da arte, e ainda empenham-se mais para que ela seja realizada e ganhe significado.
Por outro lado, a busca da legitimação pode ocorrer de maneira menos produtiva: seguindo cegamente as modas internacionais. É onde a arte não procura constituir seu nicho com um esforço hercúleo, mas adere, de maneira irrefletida, a uma impressão geral de contemporaneidade. Na comemoração dos 50 anos da Bienal de São Paulo, não por acaso a instituição responsável tanto por uma maior profissionalização da arte, como (pretensamente) pela atualização do meio - o que certamente ajudou a fortalecer as artes plásticas no país - se propôs uma exposição que ia contra a idéia de autonomia da arte e, sobretudo, contra os chamados “meios tradicionais”. Segundo eles, era preciso virar a página.
De maneira pouco clara, se escamoteavam noções ainda não plenamente constituídas no país em nome de um aggiornamento com o circuito internacional de artes plásticas. Pouco importava em que pé estavam as discussões visuais no país, as questões levantadas pela produção, suas virtualidades e deficiências. Olhava-se num espelho distante. Diante do que não éramos, clamava-se por uma nova adequação. A consolidação das artes plásticas na cidade dependia de ignorarmos o que fomos e partirmos para o abraço, aceitando o que as tendências internacionais tinham a oferecer para os selvagens. Se a interpretação desta curadoria não parece coincidir integralmente com o que de melhor tem sido feito no Brasil, certamente é elucidativa para entendermos uma das virtualidades de uma história ainda inconclusa.
Dos anos 50 para cá, o meio de arte tentou se profissionalizar. Foram fundadas galerias, abriram-se mais cursos superiores de artes plásticas e a história da arte passou a ser elaborada por meio de projetos editoriais, esforços militantes e uma atuação acadêmica crescente. Os museus também ganharam força. Passaram a trabalhar com maior solidez, instituindo práticas de conservação que antes não existiam. Com menor freqüência, algumas instituições estabeleceram políticas de aquisição, que puderam disponibilizar os trabalhos ao público. Cresceu também, exponencialmente, a publicação de livros sobre arte. Embora isso não tenha se traduzido em um alargamento expressivo do espaço público para a discussão das artes, a melhoria é sensível.
Apesar de uma razoável penetração internacional da arte brasileira, o que se constituiu aqui não garante ainda a preservação destas conquistas, nem facilita a produção e circulação das obras. Tais políticas pareciam prometer uma presença mais forte da arte no debate cultural brasileiro. Não conseguiu. Talvez por um casamento da fraqueza do meio com uma modificação da presença das artes na sociedade contemporânea.
A produção recente parece viver um momento confuso. Antes era mais fácil associar a qualidade artística aos discursos de redenção e à promessa de tempos melhores. De maneira mítica ou desencantada, progressista ou conservadora, se contrapunha o elemento opressivo da experiência à inventividade e sofisticação da obra moderna. A arte era uma alternativa ao embrutecimento da vida. Por diversas razões, para o bem e para o mal, a relação entre a crítica à dominação como criação de um novo tempo e a idéia de boa arte se tornou menos evidente. Hoje não é tão comum enxergarmos uma experiência artística como uma experiência libertadora. Menos comum é a associação disso a algo utópico, que fosse presente no horizonte.
Aqui no Brasil, tal mudança da dinâmica política e simbólica, teve conseqüências dignas de nota. A relação entre arte e sociedade ou, se quiserem, entre arte e vida, sempre pareceu complicada. Em alguns momentos, esta relação foi pronunciada. Aqui, de maneira geral, notamos que não se tratava da busca por modos da arte potencializar a vida. Pelo contrário, procuravam-se formas da obra se curvar a deliberações de outras instâncias.
Ao observarmos boa parte de nossa pop gauche e da produção dos gravadores de esquerda, como Carlos Scliar, vemos que se trata de uma arte obediente. Não descobrimos nada com os trabalhos. Eles acatam decisões tomadas em outras instâncias e afirmam verdades prontas, meio sem graça. Esta tendência à ortodoxia não aparece apenas na produção mais politizada, ela é geral, e quando se trata do oba-oba estetizante a coisa piora. Neste caso isso revela não a incompatibilidade entre arte e contestação, mas, pelo contrário, a impossibilidade de existência da arte quando ela se mostra subalterna.
Hoje parece mais difícil falar desta relação com segurança. No entanto, nunca se falou tanto. Por um lado é compreensível, a questão está na ordem do dia e é interessante o esforço de alguns artistas na procura de formas libertadoras, novas formas de relação da obra com o mundo e na revisão de juízos já envelhecidos e de verdades incontestes. No entanto, muitas vezes, a conversa migra para relações determinadas, já acertadas e, pior, excludentes.
Por isso, à crítica cabe, entre outras coisas, uma relação menos ansiosa com a arte. Nada parece muito consolidado na arte brasileira. Amparar-se em balizas rígidas e auto-limitadoras é enganoso. A arte responde a este momento de crise reelaborando as formas simbólicas e sensitivas da história em novos arranjos, que criam novas crises e assim sucessivamente, numa relação produtiva. O burburinho de quem insiste em colocar a arte nos trilhos, para que ela possa ser fonte de espetáculo, ou pior que isso, transforme-se num dado probatório, cria novas formas de submissão. Francamente, não precisamos disso. O dia-a-dia já é duro o bastante.