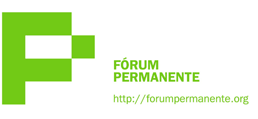ESPAÇOS INDIGESTOS: os museus precisam de arte? por Renata Motta
A arquitetura tem assumido papel central na identidade dos museus contemporâneos. O caso mais célebre é, sem dúvida, o do Guggenheim Bilbao. O edifício, projetado por Frank Gehry, tem sido considerado o pivô das transformações desse centro industrial basco, numa cidade do século 21 inserida no circuito internacional das artes. Na cena brasileira, podemos apontar duas novas instituições – o Museu de Arte Contemporânea de Niterói e o Novo Museu, de Curitiba (atual Museu Oscar Niemeyer) – que levam a chancela da principal estrela da nossa arquitetura, em edifícios que “não decepcionam”.
Inaugurado em setembro de 1996, o MAC-Niterói já explicitava o desejo de se inserir como um ícone culturalmente qualificado, com seu grande pilar central que apóia um cálice de 50 metros de diâmetro. Na ocasião, o então prefeito da cidade João Sampaio afirmaria: “Niterói tem orgulho de si. Com a inauguração deste museu, a cidade mostra ao país que pode dar certo”. Esses processos seriam acirrados com a abertura do Novo Museu no Paraná, ao final de 2002. Embora a instituição previsse um programa escola-museu amplo e espacialmente detalhado, o Museu Oscar Niemeyer abriria sem acervo, nem programação efetiva. Delineado em apenas sete meses, afirmava o trunfo poderoso do seu complexo arquitetônico, que atrelava a construção existente (projeto de 1967 do próprio Niemeyer) aos 3 mil m2 do novo edifício.
A gênese desse museu remonta ao início de 2001, quando os representantes da franquia Guggenheim percorreram o país em busca de parceiros. Curitiba candidatou-se para recebê-la, mas foi o Rio de Janeiro que acabou sendo escolhido. No entanto, a idéia de implantar uma instituição de porte em Curitiba foi encampada pelo então governador (e arquiteto) Jaime Lerner, que a viabilizaria nesse tempo recorde. O edifício, que lembra o desenho de um gigantesco olho, ratifica essa “arquitetura de museus” comandada por arquitetos-celebridades, mas que pontua uma difícil questão: como conciliar o caráter espetacularizado da sua configuração externa com a atenção solicitada pelas obras que abriga? A arquitetura do edifício, hoje emblema das instituições, projeta uma sombra no próprio acervo. Vemos que a disputa institucional não está mais na aquisição de obras, mas na visibilidade de sua sede. No extremo dessa disputa estão essas franquias de museus renomados – como o Guggenheim – que resultam em instituições com espaços grandiosos e ocos, sem políticas institucionais independentes. Museus que, sem verbas para aquisição de obras, são depositários do circuito de exposições itinerantes internacional.
Para além do absolutismo do edifício, que relativiza o próprio conteúdo do museu, cabe pontuar o papel das exposições nessa alteração profunda da identidade dessas instituições. Se desde a abertura à visitação pública regular os museus equilibraram as funções de guarda, conservação e pesquisa do acervo com a sua exibição, hoje a ênfase na ação expositiva é sintomática de uma mudança programática, alterando conteúdo e continente institucionais. Atualmente, para a maior parte dos visitantes, as exposições são os museus, fornecendo o principal ponto de contato com o acervo, proporcionando ao mesmo tempo informação e entretenimento.
Nesse contexto de ênfase na ação expositiva, interessa a reflexão em torno das diferentes formas de apresentação das obras de arte. Mas, com a sujeição das obras aos edifícios-espetaculares, como centrar essa reflexão? No Brasil, o debate foi ampliado nas comemorações dos 500 anos do descobrimento, com a polêmica “montagem cenográfica” de alguns módulos da exposição “Brasil +500”. O setor de Arte Barroca, com o mar de flores amarelas e roxas da cenógrafa Bia Lessa, pode ser questionado sem grande dificuldade, seja no que diz respeito aos aspectos visuais que não sustentavam o discurso da paixão e seu apelo popular, seja nas questões de conservação, já que a grande quantidade de elementos nocivos em suspensão – dado os suportes de metais oxidados e a grande quantidade de cola utilizada nas flores de papel – criavam um ambiente pouco receptivo para as centenárias obras barrocas.
No entanto, a discussão centrada apenas nas questões museográficas per si me parece inócua. Embora seja possível a construção de um argumento sustentado nessas bases, resta ainda ampla margem de manobras para afirmações grandiloqüentes em torno do espetáculo cenográfico, que esterilizam o aprofundamento da questão. A cenografia do referido módulo de Arte Barroca procurou submergir o público numa festa dos sentidos, buscando se aproximar de uma cultura visual contemporânea pautada pelo domínio de um prazer sensorial, emblematizado nas instalações “imersivas”, extasiando o visitante. Creio, então, que devemos contrapor os argumentos unicamente centrados nessa visualidade sensual a uma conexão direta entre o edifício e sua museografia, e o projeto museológico-cultural da instituição. A reflexão em torno das formas de apresentação das obras de arte só é possível ao contemplarmos essas duas instâncias, já que a museografia não diz respeito apenas à arquitetura, mas também à estrutura orgânica do museu, ao ordenamento e à apresentação das suas ações para a comunidade.
Exposições de arte, sejam as blockbusters importadas ou aquelas de longa duração do acervo dos museus, devem ser analisadas nessa dupla-mão entre o projeto museológico e a própria espacialidade que as contêm. É essencial definir o público-alvo e o objetivo do museu a fim de se obter o conhecimento necessário para desenvolver uma abordagem apropriada. Uma instituição cultural não pode prescindir de diretrizes com definições claras acerca desse instrumento-chave para o acesso público que são as exposições.
As relações entre arquitetura – no âmbito do edifício ou da museografia – e museu sempre geraram tensões, mas que renovam a própria instituição. A arquiteta Lina Bo Bardi horrorizou os conservadores e historiadores da arte ao conceber um museu envidraçado e suspenso, com suportes expositivos transparentes – os “cavaletes de cristal” – que deixavam as obras flutuando, abolindo percursos lineares e cronologias. Mas foram esses elementos que emblematizaram o ideário do “museu vivo” do segundo pós-guerra, contribuindo para a consolidação institucional do nosso Museu de Arte de São Paulo. Atualmente, os "cavaletes" de Lina não estão mais em uso na Pinacoteca do Masp, mas o vigor desse projeto pode ser mensurado pela aquisição, em 2000, do direito de sua reprodução pelo Illinois Institute of Technology, bem como pela própria reformulação museográfica da Tate Modern, que também coloca em discussão a apresentação cronológica da sua coleção. Hoje, como sabemos, o Masp está institucionalmente em suspenso: sem diretrizes claras e com poucos recursos, vive o esvaziamento de seu edifício. O vigor inicial da instituição resume-se agora a receber pálidos pacotes importados. Mas exposição é ação com reflexão, experimentação e prática. Mais do que simples processo de dispor objetos em vitrines ou incluí-la como conteúdo secundário de um edifício espetacular, só é possível de ser produzida por instituições saudáveis, vivas no seu projeto museológico-cultural.
Renata Motta