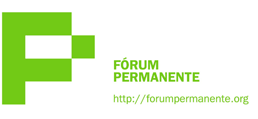Curando desde o Sul: uma comédia em quatro atos
Sumário | Versão PDF
Cuauhtémoc Medina (2017)
Tradução: Marina Lima
Fonte: Revista Errata #14: Geopolíticas del arte contemporáneo. Bogotá, Idartes, 2017.
As geografias não são estáveis nem permanentes como a rigidez da terra abaixo de nossos pés nos faz acreditar equivocadamente.
Sobretudo, as geografias não nos aparecem definidas e homogêneas, em uma apresentação sincrônica, como nos induzem a pensar as ilustrações dos mapas. Precisamente uma das formas de negação ideológica mais frequentes é a suposição de que o espaço permanece como uma variável fixa ao longo da história, como um contentor definitivo de ação, política e pensamento, em que as unidades delimitadas pelas fronteiras e cores se convertem em objetos ontológicos.
Igual aos continentes, nossos conceitos e afiliações em relação às geografias estão à deriva, e no ritmo daquele movimento sem rumo vão se transformando conforme os períodos geológicos, sociais e culturais e (por que não) psicológicos. Podem inclusive ser as coordenadas da política do discurso mais árido que existe: os programas de estudo acadêmicos.
De setembro a dezembro de 2007, tive o privilégio de realizar um seminário intitulado Latin American Contemporary Curatorial Contexts, como parte do Mestrado em Estudos Curatoriais no Bard College CCS, em Annandale-on-Hudson (Nova York). Norton Batkin, o fundador e então diretor desse mestrado, queria aproveitar o fato de que eu havia coordenado durante seis anos as aquisições de arte latino-americana na Tate em Londres para oferecer aos estudantes uma visão global dos eventos, discursos e agentes que durante cerca de duas décadas situaram a América Latina no foco da arte global. Em grande medida, o curso foi baseado em minha memória: eu havia presenciado muitas das exposições e projetos que haviam construído a cena latino-americana dos anos 1990 e 2000, e suas consequentes conversas e debates. Como ponto de partida, optei por analisar o que chamei provisoriamente de periferia por volta de 1992, para discutir as primeiras edições da Bienal de Havana (1984); de Ante America (1992), curada por Gerardo Mosquera, Rachel Weiss e Carolina Ponce de León; e da exposição Cartografías (1993) de Ivo Mesquita.
Posteriormente, introduzia aos alunos os textos de Beyond the Fantastic, que Mosquera editou em 1995 e analisava leituras-chave que a curadoria havia formulado sobre a vanguarda continental do século XX: “Histórias da antropofagia” da Bienal de São Paulo de 1998, de Paulo Herkenkoff, e “Heterotopías/Inverted Utopias” (2000-2004), de Mari Carmen Ramírez. Finalmente, o curso preparava o terreno para discordar com os estereótipos emergentes da promoção da arte latino-americana dos anos 2000: por um lado, sugeria uma crítica à orientação construtivista e op da arte regional com exposições como Geometry of Hope, de Gabriel Pérez (na Coleção Cisneros, em 2007), que resenhei como uma apresentação nostálgica de otimismo da arte do desenvolvimentismo latino-americano; e, em paralelo, expunha outro estereótipo da arte latino-americana recente: a exportação da estética da crise, a precariedade social e o ativismo político como respostas à situação do capitalismo global, como as representaram Carlos Basualdo, com a sua exposição De adversidades vivimos, na Bienal de Veneza de 1993, e Klaus Biesenbach na exposição Mexico City. An Exhibition on the Exchange Rate of Bodies and Values (2002). Ao longo dessas sessões, tentava infundir nos participantes do seminário a convicção de que havia uma dialética subjacente nas escolhas críticas, argumentos, debates e representações de exposições, bem como nos textos críticos sobre o subcontinente. Apresentei a história das exposições latino-americanas como uma narrativa na qual cada curador ou proposta de exposição levava em consideração seus predecessores, ou revogava implicitamente argumentos prévios.
Nesse sentido, a cada fase se abriam novos conceitos e lugares para a atividade do subcontinente que jamais teriam sido possíveis sem o acúmulo constante de uma tradição interna e autocrítica da curadoria.
Quando voltei ao México no início de 2008, decidi dedicar um dos meus cursos do Mestrado em Historia del Arte da Universidad Nacional a esse tema, não sem sentir certo grau de dúvida sobre o interesse que essas questões poderiam suscitar entre os estudantes latino-americanos que trabalhavam para se tornar historiadores da arte. Como preservar a urgência que esta temática continha para compreender a curadoria contemporânea?
Adicionei um par de novas unidades centradas em casos de reformulação de categorias históricas: em particular, examinamos a ideia de “conceitualismo global” como Luis Camnitzer e Mari Carmen Ramírez o haviam formulado, para levantar uma espécie de divisão de trabalho entre os conceitualistas linguísticos norte-americanos e os conceitualistas políticos ao Sul. Conversando com historiadores acreditei ser necessário introduzir uma lição sobre a denominação da curadoria como uma profissão e sua inscrição sociológica, tarefa que era particularmente necessária no México num tempo em que algumas vozes reacionárias estavam tentando identificar a palavra e a prática de curar com uma mentalidade colonizadora expressada em inglês. Foi então, ao cruzar com aquele seminário tanto as fronteiras nacionais como disciplinares, que optei pelo nome “Curando desde el Sur”, que implicava precisamente reclamar seu papel crítico diante de um processo de globalização que não fosse uma mera assimilação do Norte.
Como poderão ver, aquela mudança de rótulo se relacionava com uma desconfiança subjacente. Referir-me ao Sul foi, até certo ponto, uma forma de introduzir uma filiação duvidosa que aspirava interromper as identificações tanto nacionais como geográficas em que se abrigavam o horizonte da disciplina de meus alunos. Motivos similares me levaram, em meados de 2008, a propor ao Patronato de Arte Contemporáneo (PAC) o tema ou o lema: “Sur, sur, sur, sur...” para organizar o 7º Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo. A categoria “Sul” aparecia ao mesmo tempo como contígua e excedente da lógica de uma comunidade artística latino-americana, e ultrapassava a desajeitada agência de “o nacional” na cultura global. O Sul aparecia, e assim declarei na época, como uma espécie de corretivo da identificação que em minha localidade muitos faziam entre a arte contemporânea e o aparente cosmopolitismo da cultura hegemônica do Norte. O termo “Sul” resultava claramente carregado de uma politização da geografia: era mais um chamado para transformar a orientação das referências e estudos do que um conceito a ser transmitido enquanto realidade empiricamente verificável.
Com efeito, passar da revisão de uma genealogia curatorial “latino-americana” para a elaboração de um “projeto curatorial no Sul implica ultrapassar uma identidade específica para habitar um espaço ainda mais apinhado de debates e temas, a ser definido por uma virtualidade mais do que por uma geografia, e que aparece como um espaço não estatal, diferenciado da condição pseudonacional de “latino-americano”. “Curando desde el Sur” remete a uma prática que se configura quando a gente se localiza (ou descobre que está) numa dialética de debates históricos a longo prazo; quando se assume como parte de uma genealogia crítica que negocia, desespera ou redefine a história do Sul como uma geografia dissidente da arte moderna e contemporânea. É a postulação de uma comunidade gerada em grande medida pelas consequências de questionar a exclusão e os estereótipos de consumo do exotismo, que buscam reformular a narrativa e o cânone do moderno e contemporâneo, e que se propõe o tempo todo a habitar uma prática cultural atravessada pelo dilema ético da tradução cultural. Acima de tudo, é uma geografia virtual que surge da tomada da narrativa dominante – construída do Norte e do Ocidente –, seus cânones e princípios subjacentes, como dados constantes de crítica; dados aos quais se deve sempre estar alerta para não reconstituí-los (de contrabando) como objeto de desejo.
Perdendo o Norte
De fato, “Curando desde el Sur” pode ser apenas uma descrição vaga de algumas trajetórias criadas pelo impulso de uma nova experiência dos curadores do Sul, ao desafiar a direção da circulação cultural nos anos 1980 e 1990. Até então, como colocou sabiamente Gerardo Mosquera em seu artigo “Algunos problemas del comisariado transcultural” (1994), o mundo “estava praticamente dividido entre culturas curadoras e culturas curadas”, dentro de um sistema que ele descreveu como “fenômeno de curadoria invertida: os países que hospedam as mostras de outras culturas são eles mesmos quem curam as exposições; quase nunca acontece o contrário, e isso parece o mais natural”.[1]
Hoje em dia, depois de um quarto de século, os intercâmbios entre contextos culturais, sujeitos e regiões converteram-se – para dizer o mínimo – em barrocos e intrincados. É de fato mais frequente que os argumentos e conceitos críticos das exposições, e mesmo das bolsas, viajem com as obras de arte de seus supostos lugares de origem, embora a desigualdade geopolítica dos poderes de representação e legitimação não tenha desaparecido. Fazemos parte de uma ampla rede de fluxos e trocas de informação que implica que os chamados agentes locais raramente carecem de certo nível de participação na produção dos marcos de circulação de cultura. As regras de participação experimentaram uma mudança, assim como as possíveis políticas de curadoria. Não é errado argumentar que uma das condições da cultura hoje em dia é que cada cultura se tornou, em certa medida, em uma “cultura de curadoria”. Em meio aos desafios que essa mudança implica, é possível afirmar que os “curadores do Sul” têm sua própria especificidade?
Certamente, não é mais possível postular que há uma dicotomia de trajetórias, à maneira em que em Le Vent d’est (1970), o western italiano pós-1968 do grupo Dziga Vertov, Glauber Rocha pretendeu diferenciar a agenda autorreferencial do cinema europeu de vanguarda, do “cinema do Terceiro Mundo, um cinema perigoso, divino e maravilhoso” que então emergia no Sul. Traçar uma posição similar hoje, seria pelo menos demagógico. Afirmar uma demarcação essencial, ou uma energia política resultante da imposição de uma diferença nítida entre as possibilidades da “sua” curadoria e da “nossa”, ou alegar, como era possível até o início dos anos 1990, que o centro poderia ser desafiado com alguma sorte de exclusão invertida, já não parece concebível ou taticamente praticável. O mundo e as práticas artísticas, instituições, redes e teorias estão profundamente entrelaçadas e implicadas entre si para apresentar qualquer oposição simples entre “eles” e “nós”, Sul e Norte, mainstream e marginal. No entanto, é evidente que a noção de “Sul” não pode ser separada de uma certa dicotomia. O Sul bem poderia indicar – junto com a avaliação e visibilidade da regionalização da pobreza, do conflito, do subdesenvolvimento, do atraso ou da complexidade barroca – a tentativa de problematizar o próprio conceito das rotas da cultura. O Sul aparece, então, como o sinal de uma sã desorientação.
Quando nos orientamos para o Sul, fazemos isso sob a premissa compartilhada de que a geografia é sempre um diagrama de poder, domínios, fluxos e operações: o campo de batalha, o tabuleiro de jogo, o circuito de comércio, a área de influência, as zonas de quarentena, os abismos e autoestradas, toda essa artilharia mental, visual e motora é a rede de superfícies de pensamento e sua transliteração nas relações de dominação, reconhecimento, absorção e mútua ignorância entre os sujeitos. O que se convoca nas noções de cima, baixo, atrás, à frente e através, não é o imaginário de um espaço neutro, vazio e mensurável que enfrenta um corpo comprimido e isolado, mas o entrecruzamento de hierarquias, transbordamentos, ambições e ilusões; de cercas, fronteiras, túneis, estradas, vias, trincheiras e orifícios, que se manifestam entre sujeitos, coletividades, espíritos e corpos, falantes e fantasmas. Todos nós sabemos que a injustiça, antes de falar e caminhar, já está plantada na floresta de símbolos da linguagem e da economia, por meio da disparidade de ocorrências sarcástica do destino que é geopolítica. Aqui estamos: inscritos em nomes, lugares, nações, cores, profissões, condições fixas e identidades. Aqui você, lá ele, eles no centro, em um labirinto de distribuições e papéis. O você, o eu, o lá e até mesmo aqui, e nós em nenhuma parte.
Como já mencionei, em 2009 dirigi o 7º Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo (Sitac).[2] Desde o título, Sur, sur, sur, sur, entendi o evento como um momento de reflexão e mobilização. Como ponto de partida do colóquio, defendi a necessidade de refletir sobre os saldos das batalhas geopolíticas das décadas anteriores. Ao convocar teóricos fundamentais nos últimos anos da crítica pós-colonial e política da arte (entre outros, Jean Fischer, Nikos Papastergiadis, Nelly Richard, Suely Rolnik, Ana Longoni etc.), junto com artistas-teóricos-agentes culturais (Beatriz González, Doris Salcedo, Roberto Jacoby, Magdalena Jitrik, Marcelo Expósito etc.), tive a intenção de promover um deslocamento fora das referências metropolitanas que tendiam a assolar os debates sobre a arte contemporânea no México, e também abrir a oportunidade de (nos) repensar de uma posição de relativo êxito, já que, ao meu ver, as queixas históricas de exclusão e distorção na narrativa da arte global não teriam sentido a menos que conseguíssemos repensar nosso sofrimento e resistência diante dos estereótipos e da marginalidade cultural.
Devíamos examinar qual era o lugar e o ponto de inflexão a partir do qual a hegemonia cultural do Atlântico Norte tinha sido, pelo menos simbolicamente, derrotada ou quebrada; tínhamos que expor novos debates, estratégias e perguntas. Eu tinha a esperança de abordar a questão de como conservar a conexão com as batalhas da crítica e a inclusão do passado, mas também a busca de uma transformação crítica da esfera do poder de representação e discurso diante do qual já não podemos pretender uma posição de bela exterioridade.[3]
Chegamos a alguma conclusão ou resultados naquele simpósio? É uma questão de cortesia e falsa modéstia arguir que as reuniões acadêmicas e teóricas não chegam a conclusões, senão que abrem novos lugares de pensamento e perguntas para cursos e reuniões futuras. Porém, valorizo em especial uma intervenção concreta por sua radicalidade, a de Nikos Papastergiadis, já que foi uma contribuição marcante por seu esquecimento, um ato falho freudiano e um conflito de desejos. As publicações de memórias dos simpósios do Sitac realizadas pelo Patronato de Arte Contemporáneo são sempre bilíngues. A designer Cristina Paoli marcou a divisão entre a versão em espanhol e a em inglês com um abismo de palavras no centro do livro. No entanto, naquela dupla cascata de debates, testemunhos e documentos South-Sur, dois parágrafos da tradução para o espanhol foram omitidos por engano. Se olhar para as páginas 70 e 71 da versão em inglês, 72 e 73 da versão em espanhol, vai encontrar um debate entre Jean Fisher, Nelly Richard e Nikos Papastergiadis sobre o papel do Estado na nova geografia do Sul, e a atrofia de seu papel emancipador. É irônico que o ponto máximo do argumento de Papastergiadis sobre a natureza do Sul como lugar de encontro para os nossos discursos e criações não se encontre na edição do livro que editei em minha própria e querida língua materna colonial:
É prioritário examinar a alternativa entre “para o Estado ou fora do Estado”. Sei que os gregos estavam equivocados em muitos pontos, mas há algo que eles – especialmente os estoicos – pensavam, se trata do cosmopolitismo. Os “estoicos” tomaram seu nome do espaço onde costumavam se reunir, chamado stoa. Pode-se dizer que era uma parte doméstica da polis, isto é, do Estado. A stoa, ou entrada principal, ficava entre a casa e a rua, entre o oikos e a cidade. É um lugar de movimento, transição, um lugar pelo qual se passa e, certamente, a maioria dos estoicos eram migrantes: eles se mudavam de lugar em lugar, fazendo comparações constantes à medida que se deslocavam.
Quando nos perguntamos: “Como será o espaço onde nos reuniremos?”, será um lugar de transição, acredito. Mais uma vez, poderíamos pensar no seguinte: para onde iremos quando o Estado entrar em colapso? Qual é a alternativa? E é muito simples: nos encontramos numa fase em que o individualismo e todo resto é dominado pelo consumismo, e é nossa obrigação reescrever esse momento para que a individualidade e a coletividade possam ser compreendidas por todos. Isso não exige necessariamente um retorno ao Estado, mas tampouco me apaixona a cultura de consumo do livre mercado. Eu trabalho em uma universidade ao estilo clássico, um laboratório que cria tensão entre o Estado e as relações entre nós para entender o que está por vir, o que nos reserva o futuro e o que está aí no mundo.[4]
O Sul é, com efeito, um lugar tão inapreensível quanto inscontrutível. Não é o espaço da contra-hegemonia do poder nórdico-ocidental (Atlântico Norte, francês, americano e romano-católico), um novo lar e um novo Estado; mas um espaço de um trânsito reflexivo, entre a casa perdida e o Estado falido, e entre a causa perdida e o poder desempregado. O Sul é um espaço onde examinamos as relações entre nós e com o poder, no entendimento de que o cosmopolitismo nada mais é do que um reconhecimento da relatividade das identidades. Esse espaço identitário é aquele que permite gozar da desorientação, em vez de apelar por uma comunidade substancial e revigorada. O Sul é uma maneira de se inscrever nem dentro nem fora. Que um aí radicalmente anti-identitário possa ser debatido nesta stoa que é o museu de arte contemporânea (que vale notar, é o lugar onde você também está protegido em sua deriva de Paris para lugar nenhum) não é nada secundário. Há condições que definem a arte contemporânea como instigadora destes debates. Um dos nomes do Sul é Nepantla, a bela palavra nahua para denominar o lugar “no meio”.
Penso em um trabalho que parece até redundante chamar de “central”, e em um aspecto de seu comportamento que talvez não seja levado completamente em conta: o Cruzeiro do Sul, de Cildo Meireles (1969-1970). Os 9 milímetros cúbicos dessa escultura feita de duas madeiras aderidas, pinho e carvalho, duas árvores ligadas à mitologia do fogo entre os indígenas, colocada em sua minúscula temeridade no centro de uma sala do museu, é claramente um emblema da arte latino-americana. Trata-se de um trabalho que pode ser pensado em tensão com o monumento e, particularmente, com o pedestal do “centro do mundo” de Piero Manzoni que, como disse Paulo Herkenkoff, “ocupa uma terra itinerante, temporária, episódica e não específica”.[5]
Cildo Meireles construiu esta peça precisamente para evitar que a sua participação na exposição Information, no Moma, em 1970, acabasse obrigada a representar a localidade de sua carreira ou, ainda pior, servisse como o sinal de uma nacionalidade. O “Sur” aparece ali como uma referência para redirecionar o destino da geografia para a reflexão crítica da condição das fronteiras como dispositivo essencial da globalização. Meireles propôs “falar sobre uma região que não existe em mapas oficiais, chamada Cruz del Sur. Seus habitantes originais nunca a dividiram, mas outros vieram e a dividiram para seus próprios propósitos”.[6] O artista remeteu essa divisão à divisão real ou imaginária de Tordesilhas, a própria representação da divisão geográfica como um dispositivo colonial. Daí que a obra aparece como a estrela de uma navegação peculiar: um objeto fronteiriço que transporta a arbitrariedade da geografia para todo lugar.
Vamos entender: este é o centro do mundo; é também um centro móvel, explosivamente pequeno, portátil, que a cada vez que fica exposto exige aos organizadores e os museus terem em mãos um par de cópias, porque tende a ser facilmente roubado. É um horizonte extraviável.
Com efeito, o Sul não é um endereço. É sempre uma reclamação, porque o subalterno não se representa; ele infecta e rouba, subverte e perverte, transborda e desaparece. O Sul não é um objeto: é um incitamento e a renúncia em aceitar o sistema contínuo de modernização-universalização-homogeneização. O Sul não é uma região; é a genealogia das fugas e recomposições do esquema das regiões. O Sul foi, e deixa de estar: aparece e se mostra, arredonda e explode. Essas quatro características, uma a uma, são aspectos de um fenômeno que jamais se expressa completamente ou é habitado.
Contrabando malicioso
A maldição de ter sido curador no Sul no final do século XX ou início do século XXI reside na necessidade de navegar constantemente entre as demandas do exotismo de Cila e a integração colonial submissa dos Caribdes. Uma boa maneira de identificar um curador do Sul é saber que, em algum momento, se esperará dele ou dela que produzam miragens de autenticidade e simulacros de representação geográfica, étnica e social. Por mais turvas que estejam as águas da representação da identidade para navegá-las, o curador do Sul sabe que não é uma vantagem se marcar no limo da nacionalidade, etnia ou lugar, já que então a única alternativa será contribuir passivamente para a exclusão de possíveis discursos críticos ou a promoção de artistas e obras de arte que caminharão timidamente para o matadouro do exotismo ou para a aceitação cosmopolita e insípida da norma da principal ordem cultural.
Igual a muitos colegas que admiro, aprendi a ser extremamente cínico frente a necessidade de pagar um preço para criar condições que permitam a inclusão de obras, artistas e tendências que de outra forma parecem não fazer sentido, ser histéricas ou simplesmente atrasadas aos olhos da maioria. Não é preciso dizer que todos os artistas, curadores e instituições da antiga periferia compartilham a desgraça de se verem forçados a não representar suas práticas, metodologias artísticas e modos de pensar, mas compartilham muitos fantasmas e projeções sob as categorias de “sua cultura ou etnia”, “seu país” ou “sua tradição”. Agora, até certo ponto, é melhor participar desses encargos, pois caso contrário este espaço será utilizado por ideólogos ou por colegas inocentes mais do que felizes em jogar a carta de identidade. Se não nos forçarmos a ver, não existe praticamente nenhuma região ou subalterno do mundo da arte que não tenha ganhado a atenção de instituições globais, do mercado ou da crítica de arte, sem a intervenção de algum estereótipo operante para a agenda da simplificação geopolítica. A arte cubana, por definição, tem que ser um comentário permanente sobre o regime dos Barbudos e dos barqueiros; espera-se que a arte chinesa gire em torno da natureza kitsch da revolução cultural; um artista colombiano é concebido apenas em relação ao narcotráfico e à morte, os sul-africanos são especialistas em apartheid, e os libaneses em carros-bomba. No lugar de lutar contra isso, acredito que muito do que tinha valor na arte global nos anos 1990 tinha a ver com a inversão desses temas complexos e envolver o olhar do espectador no argumento e, assim, extrair uma força crítica improvável dos próprios estereótipos. É por meio da condução dos estereótipos que o curador do Sul é capaz de abrir diferentes políticas da imagem futura. Ao mesmo tempo, estamos cansados das muitas formas com que se promovem, impõem, naturalizam e validam as identidades como parte do funcionamento de mecanismos de afiliação cultural. Não é possível fugir desses paradoxos.
Existem outros planos em que a tarefa do curador de arte contemporânea no Sul carece de sentido, a menos que crie uma condição similar à esquizofrenia. Esse é o caso da nossa interação com o tecido institucional. Dado o relativo subdesenvolvimento de museus, arquivos, coleções, historiografias e mercados em nossas respectivas esferas práticas, estamos sempre ocupados com a manutenção, criação ou melhora de inúmeras agências institucionais. Em tempos em que há cada vez mais casos de curadores independentes reintegrados às várias afiliações institucionais, acadêmicas e comerciais, sejam galeristas intelectuais ou administradores assalariados de intercâmbios culturais, estamos cada vez mais ocupados em criar múltiplas instituições. Ao mesmo tempo, a maioria, se não praticamente todos os nossos discursos críticos e curatoriais, são produzidos com base em modalidades críticas, quando não abertamente em termos de argumentos de subversão cultural. Essa contradição não é prova de uma inconsistência: é uma manifestação da complexidade e dos paradoxos da nossa própria intervenção.
Sob tais termos, podemos afirmar que as instituições e instrumentos que estamos produzindo são capazes de abrir as condições para um novo tipo de prática? Por exemplo, são os museus do Sul, e os museus no Sul, apenas uma imitação dos referentes de instituições e estruturas canônicas que a evolução do Centro-Norte deu origem?
As iniciativas institucionais e organizativas que hoje se encontram em desenvolvimento em regiões como a América Latina me intrigam e me fascinam de modo particular. Tomadas em conjunto, elas parecem sugerir o desdobramento de uma nova ecologia meridional de estruturas artísticas em torno do questionamento prático das relações anteriores neocoloniais do poder cultural, de tal modo que produzem formas de ação locais e municipais mais fortes, bem como alianças internacionais. Ao longo do continente, os museus de arte contemporânea e moderna estão surgindo com níveis de ambição que até poucos anos atrás eram inconcebíveis.
Alguns deles estão em um processo crescente de colaboração regional, intercâmbio de exposições, compartilhando ideias e tecnologia, e desenvolvendo novas redes sociais em seu entorno. Enquanto a circulação de artistas e projetos em torno desses espaços está acelerada, os propósitos dessas instituições podem ser difíceis de identificar. Instituições com um enfoque regional, tais como o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba), se dedicam hoje a produzir e importar exposições de artistas como Tracey Emin ou Yayoi Kusama, o que parece desviar de sua vocação original, enquanto museus, como o Reina Sofia na Espanha tendem a deixar de transmitir a história hegemônica do século XX e “apresentar outras histórias no plural, que estejam relacionadas com o Sul [...] com modernidades que careceram de voz própria”, citando Manolo Borja Villel.[7] Nos últimos anos, como todos sabemos, o Reina Sofía tem trabalho estritamente em associação com o propósito de preservar o legado das práticas radicais de reificação e comercialização na região, e está especialmente interessado em defender a integridade da memória dos inacabados projetos emancipadores latino-americanos dos anos 1960 e adiante. A Red é, sem dúvida, uma das tentativas mais destacadas de coordenar tanto a investigação, a defesa e a curadoria, como um meio de desenvolvimento de políticas específicas para a preservação e maior conhecimento da cultura do Sul. Com o crescimento do número de bienais e simpósios em muitos países da chamada “periferia”, a redefinição das nossas geografias cognitivas e imaginárias parece ser ainda um dos mais importantes processos culturais deste período.
Canibais… de novo
Há pouco mais de uma década, eu estava sentado com alguns colegas na mesa de um restaurante francês em Helsinque, no dia seguinte à inauguração do ARS 01 no Museu Kiasma.
Depois de pedir a comida, um de nossos colegas asiáticos notou: “Não há europeus nem americanos na mesa: podemos falar sobre insetos!”. Por algumas horas, livres do alcance dos olhos e ouvidos de nossos amigos mais civilizados, revisamos com entusiasmo todo tipo de insetos, vermes, cobras, sapos, cães e tatus que havíamos comido em casa ou durante nossas viagens pelo mundo.
Em retrospectiva, posso assegurar que, nessas histórias, comparações e formas extremas de linguagem culinária das regiões mais remotas do mundo, encontramos a nossa particular stoa: o espaço de diálogo atravessado por diferenças culturais, em pleno desafio da centralidade cultural ocidental. Independentemente de estarmos ou não reunidos em torno dessas delícias, há alguns temas que precisamos estar preparados para trazer à mesa ou, se preferirem, ao redor do fogo central, se vamos abordar nossa condição de curadores meridionais. Quero terminar este texto delineando alguns deles:
a) Em que estado geográfico estão as nossas redes culturais e econômicas? Ainda somos obrigados a interagir uns com os outros principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ou poderíamos argumentar que as interações Sul-Sul são finalmente fluidas e constantes? Ainda é verdade que um certo grau de desenvolvimento de um novo internacionalismo depende da eliminação desses intermediários?
b) Quais são as geografias das redes que gostaríamos de desenvolver, o espaço das narrativas que gostaríamos de produzir e a natureza das redes ou supostas comunidades das quais queremos fazer parte?
c) Segue sendo o Sul ou qualquer outra construção geográfica uma categoria central de nossos projetos intelectuais e políticos? Ou outras questões – como a universalização da crise do capitalismo, a dinâmica de novas formas de ativismo e as novas ondas de protestos descentralizados e globais – deslocaram a crítica da geopolítica de nossas agendas curatoriais? Até que ponto o Sul é um eixo de nossa práxis específica, ou simplesmente uma causa que seguiu seu curso?
d) Movendo-nos para além da esfera de consumo cultural exótico dos públicos, especialmente na metrópole, a geografia ou o pensamento geográfico ainda são uma referência significativa do pensamento crítico? Ainda entendemos a lógica da produção artística ou cultural a partir dos mapas, ou essa noção foi perdendo sua validade?
e) O que significa “internacionalismo”, uma vez que o capitalismo global e suas contradições parecem ter unificado o mundo inteiro? Nós damos como feita hoje, a natureza global de nossa prática, ou é algo que precisamos estabelecer constantemente em termos de teoria e em relação às obras que focamos nosso trabalho?
f) Qual é o papel da representação étnica geográfica em nossa prática como curadores? Ainda achamos útil falar sobre ou de um lugar na geografia ou no discurso, ou podemos finalmente assumir uma lógica do nomadismo e da descentralização? Ainda estamos aqui, ou já fomos definitivamente?
Referências bibliográficas
BORJA, Manuel; MOLÍN LÓPEZ, Raúl. Entrevista con Manuel Borja-Villel (director del MNCA Reina Sofía – Madrid). In: Artfacts.net, 2008. Disponível em: < http://www.artfacts.net/index.php/pageType/newsInfo/newsID/4641/lang/3> (Acesso: 01 mai. 2015).
HERKENKOFF, Paulo. A Labyrinthine Ghetto: The Work of Cildo Meireles. In: Cildo Meireles. London: Phaidon, 1999, pp. 39-41.
MEDINA, Cuauhtémoc (ed.). Sur, sur, sur, sur. Séptimo Simposio Internacional de Teoría de Arte contemporáneo/Seventh International Symposium of Contemporary Art Theory. México: Patronato de Arte Contemporáneo, 2010. 596 p.
MEIRELES, Cildo. Cruzeiro do Sul/The Southern Cross (1970). In: Cildo Meireles. London: Phaidon, 1999.
MOSQUERA, Gerardo. Some Problems in Transcultural Curating. In: FISHER, Jean (ed.). Global Visions. Towards a New Internationalism in the Visual Arts. London: Kala Press-The Institute of International Visual Arts, 1994, pp. 134-139.
MOSQUERA, Gerardo. 2010. Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y culturas. Madrid: Exit. 174 pp.
PAPASTERGIADIS, Nikos. «¿Qué es el sur?» y «Discusión: El otro hoy». In: MEDINA Cuauhtémoc (ed.) Sur, sur, sur, sur. Séptimo Simposio Internacional de Teoría de Arte contemporáneo/Seventh International Symposium of Contemporary Art Theory. México: Patronato de Arte Contemporáneo, 2010. 596 p.
Notas
[1] MOSQUERA, Gerardo. Some Problems in Transcultural Curating. In: FISHER, Jean (ed.). Global Visions. Towards a New Internationalism in the Visual Arts. London: Kala Press-The Institute of International Visual Arts, 1994, p. 135 (segunda tradução). Tradução do trecho para o português que havia sido originalmente traduzido pelo autor do inglês para o espanhol: “Estaba prácticamente dividido entre culturas que curan y culturas curadas, dentro de un sistema que él calificó como ‘fenómeno de la curaduría invertida: los países que alojan las muestras de otras culturas son ellos mismos quienes curan las exhibiciones; casi nunca sucede al contrario, y esto parece de lo más natural”.
Nota original do texto de Medina: El texto publicado recientemente en español ha suprimido la frase “The world is practically divided between curating cultures and curated cultures” (Mosquera, 2010, p. 74).
[2] Neste fragmento retorno a um argumento que usei no coloquio El Sur e seus sujeitos desejante, organizado pela École Lacanieanne de Psychanalyse (ELP) no Museo Universitario de Arte Contemporáneo (Unam), em 16 de fevereiro de 2013, cujo texto permanece inédito.
[3] Ver a respeito do texto de convocatória do evento: MEDINA, Cuauhtémoc (ed.). Sur, sur, sur, sur. Séptimo Simposio Internacional de Teoría de Arte contemporáneo / Seventh International Symposium of Contemporary Art Theory. México: Patronato de Arte Contemporáneo, 2010, pp. 11-15.
[4] PAPASTERGIADIS, Nikos. «¿Qué es el sur?» y «Discusión: El otro hoy». In: MEDINA Cuauhtémoc (ed.) Sur, sur, sur, sur. Séptimo Simposio Internacional de Teoría de Arte contemporáneo/Seventh International Symposium of Contemporary Art Theory. México: Patronato de Arte Contemporáneo, 2010, p. 70-71
[5] HERKENKOFF, Paulo. A Labyrinthine Ghetto: The Work of Cildo Meireles. In: Cildo Meireles. London: Phaidon, 1999, p. 39.
[6] MEIRELES, Cildo. Cruzeiro do Sul/The Southern Cross (1970). In: Cildo Meireles. London: Phaidon, 1999, p. 106.
[7] BORJA, Manuel; MOLÍN LÓPEZ, Raúl. Entrevista con Manuel Borja-Villel (director del MNCA Reina Sofía – Madrid). In: Artfacts.net, 2008. Disponível em: < http://www.artfacts.net/index.php/pageType/newsInfo/newsID/4641/lang/3> (Acesso: 01 mai. 2015).