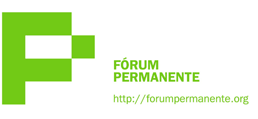Mesa 11 - Sociologia e Cinema: reflexões sobre o 'primeiro plano'
Mauro Rovai apresentou, em sua palestra “Sociologia e Cinema: reflexões sobre o 'primeiro plano'”, parte de um trabalho em que analisou o primeiro plano em três filmes: Olympia, de Leni Riefenstahl, Viagem ao princípio do mundo, de Manoel de Oliveira e Deserto Vermelho, de Michelangelo Antonioni. Em 2005, ele tratou da análise dos filmes na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - Anpocs; no simpósio, leu a parte teórica.
Começou citando Pierre Sorlin, no livro Estéticas do audiovisual, em que o autor se questiona sobre as bases do debate sobre cinema. Sorlin acha que é uma particularidade da estética e do cinema que os termos do debate - mesmo contemporâneo -, se encontrem nos primeiros textos escritos sobre o assunto. Mesmo no início, disse Sorlin, o cinema não apenas mobilizou multidões, não foi apenas vivido como um espetáculo apaixonante, mas suscitou literatura. Esta era necessária para se contrapor à confusão entre poder e eficácia que ocorria no cinema comercial. Os intelectuais que escreveram sobre o cinema se indagaram sobre as mudanças que o mesmo acarretaria nas formas de expressão artística. Os escritos não se restringiram a considerações técnicas e se mantiveram distantes do conteúdo dos filmes. Tratavam de como o cinema deveria ser feito e do que poderia ser. Na ausência de regras que determinassem a normalidade, o debate foi se introduzindo na imprensa, nos livros profissionais e na poesia.
O importante para Mauro foi ver como os textos sobre cinema deixaram uma dupla herança. Por um lado, mostraram que os aspectos técnicos não foram capazes de fazer calar poetas, intelectuais e jornalistas, deixando sempre deixaram clara a separação entre a realidade e o cinema. Por outro lado, o reconhecimento de que o filme cativava o espectador afastou a preocupação imediata com o conteúdo, privilegiando a maneira como afetava as paixões do espectador. Mauro disse que seu objetivo ao retomar esse argumento era de mostrar que cinema não foi apenas uma novidade técnica mas sobretudo uma manifestação que mobilizava uma carga afetiva no espectador. Assim, trouxe para o debate temas que constituíram as discussões sobre essa novidade estética que era o cinema e, particularmente, sobre o primeiro plano.
Em seguida, portanto, Mauro procurou definir o primeiro plano. Explicou que esse plano nos dá a possibilidade instigante de ver no plano a imagem onde o afeto se expressa, principalmente se for o plano de um rosto ou de um gesto. O palestrante visava explorar o cinema como maneira de conhecimento do rosto como expressão dos afetos, para depois explorar o cinema como instrumento de conhecimento de tipos distintos de uso do detalhe na tela grande.
Sobre o rosto, Mauro mencionou vários autores. Disse que, para Jacques Aumont os tamanhos dos planos se relacionam com as várias maneiras de enquadrar um personagem e são geralmente tratados pelas seguintes expressões: plano geral, plano de conjunto, plano médio, plano americano, plano aproximado, primeiro plano e close-up. Já para Deleuze, disse, o primeiro plano dá caráter de rosto à imagem. Mauro ressaltou que não é uma questão de tamanho, mas de qualidade do que está no primeiro plano, de afeto que a imagem expressa. O primeiro plano faria do rosto a pura matéria do afeto. A alma do cinema.
Citou ainda Jean Epstein e Béla Balázs, que faz uma analogia entre o cinema e a imprensa. Sobre André Bazin, Mauro disse que esse autor compara o ator de cinema e de teatro; que afirma que os afetos podem ser expressos na tela não só através de partes de corpo humano, mas também por um objeto ou por qualquer coisa, à condição que haja uma tomada que faça jus a essa expressão.
Mauro chegou então à parte da sua comunicação que tratava do detalhe, da montagem e da sociedade, em que esmiuçou a diferença entre o close-up e o grande plano. Ele mostrou como à diferença de denominação corresponde uma diferença estética e política entre as escolas americana e soviética.
Mauro explicou que o pensamento de montagem não pode ser separado do pensamento em geral. Neste sentido, a montagem em D. W. Griffith teria a ver com o pensamento americano, de dois mundos paralelos divididos entre ricos e pobres. Essa interpretação é dada por integrantes da escola soviética, com base na dialética marxista, que, por sua vez, estava na base do pensamento da escola soviética. Daí a diferença entre as escolas e também em como tratavam o primeiro plano.
Para a escola soviética, o primeiro plano era o grande plano, grande na tela, o que significava que tinha importância. Valor qualitativo. Para a escola americana, era near ou close-up, um valor quantitativo, antecipatório. Epstein, com relação ao detalhe, ressaltava que ele deveria vir envolvido por um argumento para significar afeto. Mauro procurou mostrar como, nesse debate, o primeiro plano era fundamental.
Nas considerações finais, Mauro citou Georg Simmel para destacar a função do olhar nas relações sociais. Segundo ele, Simmel ressalta a força da troca de olhares e da reciprocidade completa que acarreta. Na troca de olhares, veríamos mais e mostraríamos mais, mas o olhar não bastaria. Ainda segundo o autor alemão, o rosto tem uma expressividade própria. Traz consigo tudo o que já se viveu na vida, mas também é narrador. Mauro acentuou a diferença que o autor faz entre o agir das outras partes do corpo e o exprimir/narrar do rosto, que não é ação.
Entretanto, disse que no cinema o olhar é unilateral e não traz portanto a mesma espécie de vínculo, embora mantenha a narração. De acordo com outros estudiosos, o palestrante afirmou que há, ainda, no cinema a possibilidade de um outro tipo de olhar, o olhar abelhudo, que se satisfaz ao observar sem ser visto. À vista da complexidade das relações que apresentou, sugeriu, em guisa de conclusão, que cabe aos intelectuais explorar ainda mais as relações entre sociologia e cinema, não restando apenas nas discussões instrumentalizadas pela indústria, mas discutindo aquilo que foi desejo de novidade e arte.
Em seguida, Ana Gonçalves Magalhães apresentou sua fala, “Do objeto artístico ao projeto artístico: a prática artística no circuito internacional de exposições de arte”, como decorrente de sua atuação durante 8 anos como membro da equipe de curadoria e produção da Bienal de São Paulo. A idéia principal partiu de uma palestra proferida na Bienal pelo historiador e teórico da arte Boris Groys. Ele apontava para a tendência da arte de produzir não mais objetos de arte, mas sim projetos de arte, o que exigiria dos espectadores novas competências para compreender tais obras, pois eram constituídas de documentações freqüentemente complexas e elementos emprestados de outros campos do conhecimento.
A palestrante ressaltou que o fato de os artistas utilizarem o texto escrito não era novo e que, já nos anos 60 e 70, várias propostas artísticas procuraram romper com o campo que havia sido estabelecido para a arte. O objetivo era aproximar-se da vida, mas também criticar a instituição artística e o museu como cubo branco. Voltando à palestra de Groys, Ana lembrou que era sobretudo a questão do tempo que o preocupava: como o tempo de um projeto com uma documentação e um conceito complexos era diferente. O espectador levaria mais tempo do que normalmente levava para assimilar uma obra de arte. Essa suspensão da apreensão transformaria, para ele, a obra em um projeto para sempre.
Ana buscou dar exemplos desse movimento a partir de sua experiência na Bienal. Assim, separou as obras de acordo com a categoria do projeto. Em primeiro lugar, como exemplo de projeto cuja realização implicava, paradoxalmente, sua não realização, citou a obra de Navin Ravanwanchaikul, Doe suas idéias para um artista da Bienal, da 26ª Bienal.
Referiu-se a três projetos cujo acento estava na aproximação entre arte e vida. Primeiro, também da 26ª Bienal, tratou da obra de René Francisco, cubano cuja obra consistiu na construção de um banheiro na casa de uma senhora em Cuba. Ele apresentou um documentário na mostra. Na mesmo ano, Rosana Palazyan apresentou o projeto O realejo, em que um realejo em que se tirava não a sorte, mas frases de moradores de rua que haviam anteriormente sido recolhidas pela artista, com a ajuda de organismos sociais. Da Bienal seguinte, Ana falou dos coletivos argentinos Eloisa Cartonera e Taller Popular de Serigrafia. O primeiro expôs uma oficina de produção de livros reciclados e o segundo expôs cartazes produzidos e efetivamente utilizados em manifestações políticas em seu país.
Um outro tipo de projeto, para Ana, seria aquele que sistematiza dados servindo-se de procedimentos de outros campos do conhecimento humano, como a antropologia, por exemplo. Seria o caso das fotografias de salas de visita na Malásia, tiradas pela artista australiana Simryn Gill, que expôs na Bienal de 2004. O Long March Project, da Bienal seguinte, tinha um objetivo de catalogação e criação de acervo da prática chinesa de recorde de papel.
Outras duas categorias de projetos seriam de novas mídias e de arte e tecnologia ou arte e ciência. Exemplo da primeira seria a Net Art, um centro de computadores que ficava na Bienal e permitia o acesso a projetos na internet. Exemplos da segunda seriam os projetos de Eduardo Kac, Move 36, e de Walmor Corrêa, pinturas de animais híbridos fantásticos apresentados como desenhos de zoologia, ambos da 26ª Bienal.
Na última categoria, o caráter de “projeto” do trabalho viria da grande especialização exigida dos técnicos encarregados de montar instalações ou objetos. Por exemplo, na 27ª Bienal, os projetos Air-port-city, de Tomás Saraceno, e Monkey Way, do atelier Bow-Wow. Ambas exigiram alta qualificação técnica para a montagem
Ana continuou dizendo que o projeto se expandia e se aplicava a toda a concepção e realização desse tipo de mostra. O artista precisa aprender a formatar projetos e a negociar com a organização do evento, em discussões que freqüentemente são sobre o orçamento. Ele também precisa poder contar com o pessoal e a produção da exposição para ter seu trabalho exposto durante um curto período. Ana citou ainda um projeto que foi censurado pelos advogados da Bienal, durante essa fase de “produção”. Tratava-se do projeto de Guaraná Power do grupo dinamarquês Superflex. Segundo a palestrante, a Bienal teve razão em censurá-lo pois corria o risco de um processo jurídico pela venda de um produto que poderia confundir-se com produtos de grandes empresas de bebidas.
Ana concluiu dizendo que havia reunido todos esses exemplos para colocar algumas questões levantadas por essa nova configuração da arte. Em primeiro lugar, quis acentuar que o projeto é, ao mesmo tempo, parte da apresentação do trabalho e parte de sua elaboração. Em segundo lugar, que a maior parte dos trabalhos trata da aproximação entre arte e vida. Também ressaltou que a questão da apresentação está intimamente ligada à questão do tempo, ou seja, que são trabalhos feitos para desaparecer naquela formatação e que talvez não tenham sido feitos para serem apreendidos de maneira exaustiva pelo público. Tendo em vista esses pontos, a palestrante se perguntou sobre a função da arte como efetivamente transformadora da realidade e sobre como propostas em que o suporte são projetos políticos e sociais se encaixam em espaços institucionalizados.
A fala de Ana suscitou alguns questionamentos sobre o lugar do artista, sugerindo que talvez tivesse faltado ao seminário em geral a apresentação do ponto de vista dos artistas. Também provocou questionamentos meus sobre a coerência entre as perguntas que ela se colocou no final e a sua posição a respeito da censura da obra do grupo Superflex. Ora, se a arte-projeto não pode transformar a realidade estando dentro de espaços institucionais, por que houve necessidade de censurar o projeto? O problema talvez devesse ser visto de outro ângulo: a posição das instituições brasileiras face a esse tipo de arte é que possivelmente está equivocada pois está por demais sujeita a imperativos estrangeiros à arte. Ana disse que a instituição se encontrava no meio, entre as empresas e os artistas e que essa posição era difícil, mas manteve seu apoio à censura da Bienal à obra.
Esta última palestra relatada me parece um bom fechamento para o simpósio, pois deu exemplos concretos de obras de arte que são uma forma de resposta à crise da imagem sobre a qual fomos ali discutir e, ao mesmo tempo, mostrou que talvez essa crise já tenha sido digerida pela arte mas ainda não pelas instituições brasileiras. Só posso terminar dizendo que parece-me que a próxima Bienal confirma esse diagnóstico.