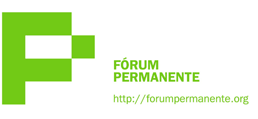Uma Bienal diet
Artigo publicado originalmente na revista Trópico
O que aconteceu com a elite de São Paulo, que, depois da crise do Masp, abandona também a Bienal e produz uma mostra tão rala?
Waltercio Caldas, um dos artistas que dá notável contribuição à arte contemporânea no Brasil, com seu humor típico, me falou que o "curadorismo" seria o último "ismo" do século XX e o primeiro do novo século. Ao que acrescentei: “Mais de um século depois da arte pela arte, temos agora a curadoria pela curadoria”.
Entretanto, engana-se quem pensa que a 28ª Bienal de São Paulo cai nesse último "ismo". Este se revela claramente quando, a um tema eleito, as obras e os artistas são conectados entre um e outro, para interagirem a favor do assunto do curador, em relações muitas vezes extremamente arbitrárias, outras de uma superficialidade de dar dó, para demonstrarem a "tese" em exposição. Uma defesa de dissertação de doutorado custa, no Brasil, alguns milhares de dólares ao contribuinte, as defesas temáticas de curadores em exposições alguns milhões. Aí já vai uma grande diferença entre uma e outra e que diz muito sobre a época em que vivemos.
Há quem acredite que, independentemente do tema, as obras de arte, quando poderosas, se impõem sobre as conexões temáticas. Discordo. Em primeiro lugar, há obras cuja força reside na delicadeza e não na ostentação da imagem e necessitam de terem preservado um espaço de fruição que certas conexões destroem; estas obras, muitas vezes, desaparecem a favor do império da imagem. Essa posição –que acredita demais na “potência” das obras– tem fé também num público homogêneo capaz de isolar as obras individualmente e percebê-las além das relações de parentesco ou tensão inventadas.
Um crítico, um professor de história da arte, um colecionador, um marchand são bem capazes dessa acrobacia perceptiva e mental; um jovem estudante ou um leigo vão assimilar as associações do curador como relações históricas e referendadas pela autoridade do especialista. Nada disso teria importância se o exercício estivesse numa pequena sala de museu ou centro cultural, e não numa exposição que atrai centenas de milhares de visitantes. Essas exposições são educativas, no pior ou melhor sentido da palavra, quer queiram ou não.
O "curadorismo" se manifesta ainda quando se pensa que artistas e obras poderiam ser dirigidos como músicos de uma grande orquestra e que o curador seria o maestro e o compositor da música a ser tocada.
Em primeiro lugar, os artistas não são intérpretes, mas autores; suas obras gozam de uma individualidade que nenhuma micropolítica ou nova estética consegue revogar. Conheço Stravinsky dirigindo Stravinsky, Shostakovich dirigindo Shostakovich, Britten dirigindo Britten, Boulez dirigindo Boulez, Thomas Adès interpretando Thomas Adès; nunca ninguém vai encontrar nada semelhante em fortes exposições temáticas, inventadas por curadores, mas uma confusão bem articulada e coerente como uma ideologia.
Conhecemos as ideologias, o sucesso que fizeram, e como funcionaram ao longo do século XX. Artistas, quando querem trabalhar juntos, se organizam em coletivos e, assim mesmo, são muito poucas as obras coletivas bem sucedidas. Desses coletivos, a maioria das vezes, saem as velhas e boas obras individuais. Lembrem-se dos grupos Kobra e Fluxus, para não falar em mais recentes e menos conhecidos. Para haver "curadorismo", a mostra tem que se impor como espetáculo sob a direção do "maestro" e "compositor". Não é o que encontramos na 28ª Bienal, uma bienal "diet", ou de bolso, para não dizer que é rala como outras que vêm se realizando.
Sabe-se que o partido da 28ª Bienal não foi determinado por um tema do curador, mas por uma crise institucional de fundo moral e, em decorrência desta, a crise financeira. Não custa lembrar que, no final da década de 1970, pela primeira vez na história da instituição, apresentou-se uma chapa de oposição à eleição de uma nova diretoria, liderada por Luiz Villares. Eleita, deu-se início a uma recuperação do prestígio perdido que durou, pelo menos, até a 24ª Bienal, de 1998. Depois da festa nababesca dos 500 Anos do Brasil e que não deixou um resíduo nos acervos do país, começa o novo declínio e, nesta Bienal de 2008, chega-se ao fundo do poço.
Não teria sido o caso de rememorar 1979, e um grupo de pessoas que se interessa por arte tomar a direção? O que aconteceu, de lá para cá, com a elite de São Paulo, que, depois da crise do Masp, abandona também a Bienal? O que mais me surpreende nessa edição da mostra é ter como curador Ivo Mesquita, talvez a pessoa que mais conhece a história da instituição e que nos deve, pelo menos, um livro sobre esse assunto que domina.
Depois de alguns parcos trabalhos no térreo, a mostra reduz-se a uma parte do terceiro andar do imenso prédio e a escolha dos curadores –Ivo Mesquita e Ana Paula Cohen– recai sobre artistas que, sintomaticamente, manifestam uma retomada de linguagens típicas dos anos 70.
Como passaram-se 35 anos desde que Lucy Lippard publicou “A Desmaterialização do Objeto de Arte – 1966-1972”, é o caso de se perguntar: essas obras traduzem, pelo menos, uma parte da cena contemporânea a ponto de permitir a quantidade de colóquios, seminários e discussões que são o forte da mostra? Ou simplesmente são adequadas ao orçamento minguado? E o orçamento é realmente minguado? Não tenho nenhuma dúvida quanto ao caráter ilibado dos curadores, mas têm eles acesso às planilhas de custo e tomadas de preço? São transparentes as relações entre a equipe administrativa, financeira, de produção e a equipe de curadores?
Esse é um ponto pouco discutido no Brasil, e realmente desnecessário em países com forte tradição de rigor na gestão de recursos públicos – sim, são públicos todos os recursos oriundos de leis de renúncia fiscal. Já que não há tanta arte a discutir, quanto custa uma bienal, mesmo raquítica? Não seria o caso de comparar com outras mostras semelhantes realizadas no Brasil? Mas isso é um tema da cidadania, assunto distante do universo da arte, ao menos no nosso país e seus micropolíticos da arte e dos coletivos.
Aguardemos uma conclusão de tantas mesas-redondas, conferências e discussões, e que seja de ordem prática, para resolver, desde já, a verdadeira bienal da crise que será a de 2010. Não será o momento de refletir sobre a forma de uma mostra que nasceu quando o município de São Paulo tinha cerca de 2 milhões de habitantes e, hoje, tem seis vezes mais?
Publicado em 24/11/2008
.
Paulo Sergio DuarteÉ crítico e professor de história da arte da Universidade Candido Mendes, no Rio de Janeiro.